
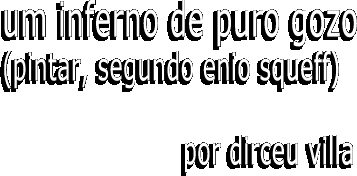

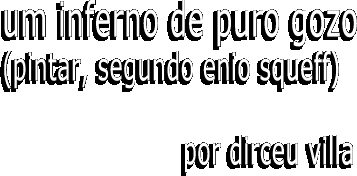
|
Enio
Squeff está diante de mim, conversando e, de repente, sem parar de falar,
se levanta para acrescentar um pouco de azul numa tela que ainda está com
a tinta fresca, uma mulher, meio adolescente, deitada seminua num sofá,
lembrando aquelas garotas endormies
de Balthus. Squeff sempre enfatiza o aspecto de "paráfrase" em sua obra: o
aprendizado dos mestres está em toda parte. Me lembro de El Greco, Redon,
Goya, Gustave Moreau, Iberê Camargo, "e dos cordéis", não me deixa
esquecer. Ao mesmo tempo, seu desenho é muito peculiar, e quem vir um
Squeff o reconhecerá na próxima vez. Na entrevista-depoimento que segue, gentilmente concedida a mim em seu ateliê em Pinheiros (acompanhado dos amigos Randáu Marques e Luís Nogueira), o pintor gaúcho — mas radicado há trinta anos em São Paulo — expõe suas opiniões, fala sobre Santidades, a exposição que esteve na Caixa Econômica Federal, sobre sua vida, sua pintura, sua obra de ilustrador e o painel de 120 metros quadrados que prepara para os 450 anos da cidade de São Paulo. Começamos localizando no tempo a abertura de seu ateliê.
 Quando
você estava preparando aquela exposição no Rio de
Janeiro?
Enio Squeff. Então... acho que foi em
2000.
2000? Enio
Squeff.
Foi em 2000. Eu já tinha aqui o ateliê, você se
lembra.
Mas era o começo.
Depois,
por um desses milagres da natureza, conversando com uma amiga, que é a
Dina, jornalista também, ela me disse: "mas tem um amigo na Vila Madalena
que tem uma garagem, e eu acho que essa garagem pode servir de ateliê para
você". Fui lá e era pura e simplesmente a casa do Javan, que já tinha ouvido falar de mim, lido
minhas críticas e que, como todo mundo, ficou muito surpreso de saber que
eu estava pintando (risos). Eu me lembro, na época ele cobrava algo
como R$ 800,00, uma coisa assim, que era relativamente pouco, tendo em
vista primeiro o tamanho da garagem, depois o espaço que eu ocupava, o
telefone que ele me emprestava, essa coisa toda. E ali sim, comecei
realmente a pintar. Primeiro, estava na Vila Madalena, um lugar muito
especial e logo tive contato com todo o pessoal ali da baixa Vila
Madalena, ali perto da Natingui. A casa
dele ficava na Turi; daí, comecei a ter
contato com o povo mesmo do lugar, ou seja, aquele pessoal pobre da Vila,
tanto que o livro que escrevi anos mais tarde tem a ver com esse meu
contato com o pessoal mais pobre da Vila. E
a Vila, nessa época — enfim, estou falando de coisa de dez anos atrás —,
ainda tinha aqueles laivos de lugar boêmio, com alguns intelectuais e com
pessoas com as quais eu estava convivendo naquele momento. Eu diria que
foi a minha "lua-de-mel" com a pintura: me levantava de manhã cedíssimo,
ia para o ateliê e pintava até às oito e meia, nove horas; de lá eu ia
para a CETESB e voltava às cinco horas da tarde, e ficava
[pintando] até uma da manhã. Agora,
uma das coisas com que eu me preocupava muito era pintar o tempo inteiro,
ou desenhar se não pudesse pintar. Foi quando comecei a trabalhar com
aquarela, e foi o meu primeiro contato com a cor. Eu diria que a coisa, no
começo, foi meio mambembe, no sentido de que eu saía para a rua, ficava
debaixo dos bicos de luz e pintava. Tudo isso foi antecedido por uma
viagem minha à Alemanha — Alemanha ainda Oriental —, em 1989, seis meses
antes da queda do Muro. Fui lá e fiz uns desenhos muito bons que ficaram
na Alemanha Oriental e eu nunca mais recuperei
(risos). Confiscados
atrás da Cortina de Ferro. (risos)
Enio Squeff. É, porque essas pinturas a revista Die Brücke,
que era uma revista oficial da Alemanha, "A Ponte", queria fazer uma
exposição, e chegou a fazer uma exposição com os desenhos que fiz em
Weimar. Me lembro que estava 6o C e eu ficava lá desenhando com
bico-de-pena. Nessa época eu só tinha coragem de desenhar com
bico-de-pena, até que, num dia em que estava fazendo uma palestra sobre
música, justamente aqui na Associação Bertolt Brecht — que era o
correspondente a Goethe na Alemanha Ocidental —, quebrou o aparelho de som
e eu convidei as pessoas para irem à minha casa na Morato Coelho, porque
ia continuar fazendo a palestra, quando o João Rossi viu uns desenhos meus
e disse: "de quem são esses desenhos?", e eu digo, "são meus", "mas você
desenha muito bem" — nessa época eu já estava começando a desenhar para a
Folha [de São Paulo], porque o Frias já tinha me pedido para
desenhar na página três — e ele disse, "mas você desenha muito bem", e eu
sabia que aquele infernozinho, aquele bicho já tinha reentrado em mim, e
aquilo era uma aventura muito séria. Na
página três da Folha
você desenhava o quê exatamente? Enio
Squeff.
Ilustrava os artigos do Newton
Rodrigues, comentarista político, naquela época trabalhando na
Folha, e eu era editorialista do jornal. O Frias me viu desenhando
— isso na época em que eu ainda trabalhava lá, depois saí e foi então que
realmente comecei a me dedicar de corpo e alma, praticamente em tempo
integral, tirante a CETESB, em que trabalhava durante certo tempo.
Enfim,
tudo isso para contar como entrei na cor, porque ele [João Rossi] me
perguntou "por que você não desenha a cor?" e eu disse, "porque tenho
medo", "medo do quê?", "eu tenho medo de não parar mais", "então, vou te
ensinar a fabricar aquarela; desenho eu não preciso te ensinar, porque
você já é um desenhista". Me lembro dele ter dito isso, "apenas vou te
fazer fabricar aquarela e daí você vai pintar". Aquilo foi realmente um
inferno; quando me chegou a cor eu disse: "porra, agora eu não posso mais
parar". O que eu fazia? Ia para o sul nas férias, para uma praia chamada
Atlântida, e todos os dias saía pro campo pra pintar. Acho que esse
foi, talvez, um dos momentos mais felizes da minha vida, porque pintava o
dia inteiro — estava de férias (risos) —, à noite me encontrava com
os amigos, com os vagabundos, ficava fumando e enchendo a cara de vinho, e
no outro dia, de manhã, começava tudo de novo (risos). Então, eu
digo... "Perfeito". Enio
Squeff.
Que outra vida posso pedir? Não existe. Só que, na medida em que fazia
isso e me sentia muito feliz, começava a estender para os meus fins de
semana, e depois não só nos fins de semana, até o dia em que resolvi
montar o ateliê, como eu disse para o meu pai, que ainda era vivo: "Olha,
agora eu vou montar o meu ateliê", e ele, para a minha surpresa — médico, que tinha até uma outra
visão do mundo —, me disse: "pois é, meu filho, foi o que sempre quiseste
fazer, né? Faz. Se precisar do teu velho pai, eu estou aqui". Foi uma
coisa muito boa para mim aquele momento, porque ele não disse: "não, não
faça isso! O que é que tu tá fazendo, tá louco, tá ficando maluco?!" — o
que também não adiantaria, por outro lado. E
poderia até ser um estímulo. Enio
Squeff.
É, exatamente. Mas eu, já um homem de certa idade, digo: "bom, vou levar o
leitinho para as crianças, mas vou pintar". Mas
foi bom, de qualquer forma, ter o incentivo. Enio
Squeff.
Ter o incentivo desse homem
de setenta, quase oitenta anos. Eu sempre pensei o seguinte: não sou muito
místico, não sou nada místico; apesar das Santidades eu
abandonei essa idéia de misticismo, mas tem umas coisas que
você... Eu
acho que você não abandonou totalmente esse negócio de
misticismo. Enio
Squeff.
Talvez não. Um amigo me escreveu ontem, "você continua um cristão?", e eu
disse, "olha, cristão eu acho que não". Sou culturalmente cristão, que não
posso ser outra coisa, mas, realmente, o meu afastamento da Igreja — até
disse outro dia numa entrevista — é total, porque há muitos anos sou um
agnóstico. E essa Igreja que está aí, Deus me livre; é também uma Igreja
culpada e já me bastam as minhas culpas, não quero agregar mais algo em
que não acredito. Mas
não posso deixar de considerar um fato: o de que realmente fui arrebatado
pelo destino que quis escamotear durante muitos anos tentando ser músico,
jornalista, essas coisas. Me lembro que eu passava de ônibus, via aquelas
paisagens e pensava: "que coisa interessante pintar paisagem. Mas o que eu
vou pintar? Depois do Cézanne, o que mais se vai fazer?". Enfim, depois de
um tempo, eis-me diante de paisagens, pintando que nem um maluco.
E
o óleo? Enio
Squeff.
O óleo veio depois, porque também me impus uma outra coisa: eu tenho
que aprender tudo. Já que comecei do começo, já que deixei vinte anos
de fazer, eu agora vou ter de aprender a fazer a tela, a
tinta. Você
aprendeu até a fazer
a tela? Enio
Squeff.
Tudo. Tudo. Desde as telas às tintas. Ganhei vários pigmentos de um amigo
meu, o Luizinho — que está vindo aí, e naquela época trabalhava com tintas
—; e comecei a trabalhar com eles e a fazer tinta a óleo; comecei a jogar
óleo, ou seja, linhaça, no meio da coisa. Alguns quadros que estão lá
tenho impressão até de que são ainda remanescentes desse período em que eu
fabricava o meu óleo. Como
na Renascença. Randáu
Marques.
Eu me lembro disso. Enio
Squeff.
(risos) Como
na Renascença. Resolvi ser o pintor completo. Eu me lembro que uma vez
estava com o Renato Pompeu, moendo tinta, e ele disse assim: "Enio, eu
estou aqui há duas horas e você ainda não parou de amassar tinta".
(risos) Daí
você disse: "é que nem cozinhar". Enio
Squeff.
É isso mesmo, é que nem cozinhar. Então aquilo tudo me jogou nesse outro
mundo do artesanato, para mim, uma espécie de aventura em que eu me
joguei, lembrando sempre daquela coisa do [Heitor] Villa-Lobos, que dizia:
"escrevi cartas à posteridade sem esperar resposta". É um lance de efeito,
mas todo artista faz isso, no fundo; porque o artista não faz as coisas
para ter recompensa. Eu não sei o que o move para ser artista,
principalmente num mundo de Bush, de misérias, de desgraças, eu não sei
por que as pessoas persistem e acreditam na arte. Talvez
pelo espírito de contradição. Enio
Squeff.
Quem sabe? Mas, de qualquer maneira, há essa reminiscência, essa busca da
verdade, essa busca de algo mais em que talvez, aí sim, eu seja místico, e
talvez nesse sentido eu acredite no transcendente, porque de fato me
joguei nessa coisa sem esperar resposta. Uma
coisa eu queria te perguntar: fui à exposição e a primeira coisa que me
ocorreu foi justamente o impacto da cor, porque o desenho eu já conhecia
das ilustrações que você fez — aliás, o primeiro contato que tive com a
sua obra. Daí surgiram alguns nomes. Pensei, por exemplo, no [Odilon]
Redon. E os
pintores? Enio
Squeff.
Eu acho que todo pintor tem uma paternidade, que vem não se sabe de onde,
porque sou um intelectual, não posso negar; não posso negar na minha visão
de mundo toda a herança, todo o legado que trago de ser pura e
simplesmente um espectador de quadros, de sempre ter folheado obras e ter
ido a exposições, ainda que não com o mesmo fanatismo com que fui a
concertos, por exemplo. Mas
sempre tive idéia de que sabia desenhar, sabia pintar — e não era uma
coisa arrogante da minha parte, eu olhava e dizia: "isso eu sei fazer".
Sempre me lembro de uma coisa do Mozart, de que quando um camarada
perguntou pra ele: "é difícil compor?", ele disse, "muito difícil"; "mas o
senhor compõe desde os oito, nove anos de idade", e ele, "só que eu nunca
perguntei se era difícil". (risos). Na
verdade, nunca perguntei se era difícil pintar: eu pintei, comecei a
pintar e me joguei naquilo. Comecei a desenhar muito e notava, por
exemplo, que o grande momento da minha semana era quando saía da
Folha e ia direto para a Pinacoteca fazer modelo vivo, que tinha um
curso de modelo vivo naquela época. Aquilo para mim era o Céu: eu saía
dali completamente enlevado. Nada substituía a minha ida à Pinacoteca para
desenhar. E
outra coisa — de novo, sem nenhuma arrogância —, eu via que era muito bom
em comparação com os outros; eu via que estava no caminho. Sentia que era
coisa de um cara que está vocacionado para isso. Tanto que olhava,
surpreendido, e pensava: "fui eu mesmo que fiz isso?". Mas tem um processo
esquizofrênico dessa coisa, porque quando você faz, as pessoas perguntam:
"qual é a sensação que você tem quando termina um quadro?". Em primeiro
lugar, tenho a sensação de que o quadro já não mais sou eu; ele é uma
coisa objetiva, viva, ele tem uma vida própria independente de mim. Tanto
tem uma vida própria que, quando eu pinto, não sou eu que está pintando, é
ele que se pinta. É
por isso que sou exigente em relação aos quadros: é o quadro que me pede
para pintar de uma determinada maneira; eu não tenho mais volição e não é
uma arbitrariedade. Qual é o escritor — e isso vale para todos os
artistas, vale para o poeta, vale para o pintor — que consegue determinar
o que seu personagem vai fazer depois de determinado momento? Nenhum. Eu
fico imaginando que o [Joseph] Conrad, quando fez o Lord Jim, não
queria matá-lo no final. Mas não tinha jeito, ele tinha que morrer no
final. Tinha que morrer. Eu me lembro (faz muitos anos, eu era ainda
garoto) de uma entrevista do Érico Veríssimo em que ele dizia exatamente
isso: "olha, o terrível é que chega um momento que você já não é mais dono
dos seus personagens. Você já não faz mais um personagem segundo a sua
imagem e semelhança, segundo a sua cabeça, porque o personagem saiu".
Pronto. Assim num quadro: de repente ele começa a se exigir, a se
construir, é o quadro que se constrói. É um pouco daquela coisa de São
Paulo: "eu já não falo por mim, Cristo é que fala em mim". É o quadro quem
me diz, "vai fazer isso e aquilo". E
o que o Willy Corrêa [de Oliveira] falou, a história de que um quadro só é
um Squeff quando você começa a... Enio
Squeff.
A estragá-lo. Isso. Enio
Squeff.
Pelo seguinte, vou te dar um exemplo muito claro: uma modelo muito bonita.
Existem modelos que são muito bonitas, e eu fico preso a elas, não consigo
me libertar da boniteza delas e, portanto, não consigo fazer uma coisa que
seja livre delas e de mim, entende? Que seja independente delas e de mim.
Ora, isso acontece muitas vezes quando estou pintando. Isso que o Willy
estava falando é que tinha uma árvore copada, bonita, e eu digo o
seguinte: "Peraí, essa árvore copada e bonita, isso aí qualquer um faz;
agora, esse quadro não está pedindo uma árvore copada e bonita, porque
nada desse quadro é bonito, nada desse quadro está atrás de
virtuosismos". Uma
vez o Willy — eu e ele temos uma identidade muito grande em relação a
certas coisas: brigamos o tempo inteiro, mas temos uma identidade muito
grande — ficou aqui no ateliê olhando para cima e disse assim: "Enio, por
que nós fazemos coisas tão feias?" (risos), e eu disse, "é uma boa
pergunta". Tem
aquela coisa engraçada que você diz de não querer que o quadro vá parar na
parede de um boçal endinheirado... Enio
Squeff.
De um endinheirado que quer combinar com a... Randáu
Marques.
O ton sur ton. Enio
Squeff.
É, com o ton sur ton da sala de visitas
(risos). Mas o grande negócio da sensação esquizofrênica é quando
você faz um auto-retrato, porque é você e não é você. Quem fez esse
auto-retrato? Quem se juntou a você pra fazer esse auto-retrato? Aí vem
uma coisa esquizofrênica: você sente a ruptura entre você e o quadro,
entre o que fez e o que o quadro efetivamente é. Eu acho que essa é uma
sensação que só o artista tem; só o artista que tem a real visão do que
está fazendo chega a esse patamar, esse limite, em que sente que não é ele
mais a se fazer, mas é a arte, é o quadro que se faz nele. Há uma
autonomia do quadro em relação a ele, entende? Isso você sente nos grandes
artistas. E
há um determinado momento no qual o quadro passa a pedir para ser
enfeiado, nesse sentido convencional da palavra, no qual você põe uma cor
muito bonita, muito bonitinha, muito isso e muito aquilo, e que no fundo,
no fundo, fica falso, não é a coisa que você deveria fazer, ele não está
mais se pedindo, você está traindo o quadro. Há um determinado
momento em que você trai o quadro. E aí é um deus-nos-acuda, e aí é o
grande momento da crise do quadro. Eu estava dizendo agora há pouco em
relação a esse painel que estou fazendo no sesc itaquera, vai ter um momento
em que eu vou odiar aquele painel, vou ter vontade de... bom, destruir um
painel é meio difícil (risos). Vai
dar muito mais trabalho. Enio
Squeff.
120 metros quadrados. Haverá um momento em que ele vai entrar em crise, eu
sei, eu me conheço, sei que vou dizer: "mas que bela merda eu tô fazendo".
Porque a outra sensação também o tempo inteiro é que você, terminado o
quadro, vai dizer: "ah, ufa, terminei"; mas, bem pelo contrário, é a
angústia do outro, é a ansiedade do outro:"putz, o outro vai ter que ser
feito, e agora, como é que vai ser?" Tenho
uma entrevista muito bonita do [João] Guimarães Rosa, em que ele diz:
"bom, eu termino um livro e, de repente, os personagens começam a surgir
dentro de mim; daí eu começo a desenhá-los, fico pensando e então começa o
inferno". Entendeu? Então começa o inferno; que, por outro lado, é um
inferno de puro gozo, é um inferno do qual você não consegue se afastar,
porque sabe que aquilo você tem que fazer, e sente que sua vida está
naquilo.
Agora,
se esse é o mistério da arte, não sei, para mim essa é a sensação que eu
tenho. Já
para mim é uma dificuldade, pra você ter uma idéia, agüentar um
vernissage: normalmente, em 90% dos casos, eu saio do vernissage
completamente exaurido, porque eu acho que o artista não tinha de ser
obrigado a ir em vernissage. Acho isso um martírio, uma coisa muito
dolorosa, porque você tem que ficar ali rindo pras pessoas quando, na
verdade, podia estar em casa pintando.
Randáu
Marques.
E explicando o inexplicável. Enio
Squeff.
E explicando o quê? Eu estava em Cuba e chegaram os prefeitos — 450 e
poucos anos de Havana e eu fui convidado para
expor
em Cuba; e aí chegaram os prefeitos de outras cidades, daquelas cidades
ali do Caribe que estavam visitando Cuba, e alguns deles disseram,
"maestro, o que você pensa sobre isso?" e eu digo: "olha, eu
penso...", era difícil.
Por
outro lado, você também não pode olhar e tratar com desprezo as pessoas,
dizer "isso não interessa", você não pode ficar nessa postura. Sou filho
de médico e me lembro da raiva que sentia quando ia perguntar para um
médico qual era o tipo de doença e ele dizia: "não, isso interessa pra
você, como eu sou o supremo sacerdote, sei das coisas e você não precisa
saber". Há! e não é nada disso, você tem realmente que tentar explicar
alguma coisa, mas é explicar o inexplicável, porque você vai dizer o quê?
Eu quis tal coisa? Eu não quis tal coisa, o quadro que se quis, assim ou
assado. Então essa é a questão de você chegar num vernissage e ser
colocado de novo em confronto com a idéia do que você quis com aquilo. E
por outro lado também é muito fácil você ver as Santidades e dizer:
"bom, você é um místico". Não, não sou um místico. E
isso você deixou claro no texto que foi para a
exposição. Enio
Squeff.
Eu pus lá: "olha, eu tô fazendo isso porque faz parte do repertório da
iconografia e, portanto, está na minha cabeça". Baseado
nisso eu queria fazer uma pergunta; aliás, são duas perguntas. Uma é: o
que você pensa de curadoria em geral — a curadoria que a gente tem visto
no Brasil — e da curadoria específica da sua
exposição? Enio
Squeff.
Eu acho que a Ronie [Prado] fez uma curadoria muito boa, mas aí também sou
um pouco suspeito pra falar, porque ela é minha namorada, nós trabalhamos
juntos e a gente sempre discute. Vou
dizer uma coisa pra você: acho que o curador tem autonomia em relação ao
artista, porque faz a própria leitura. Eu me lembro que uma vez, quando o
Gilberto [Habib de Oliveira] fez a curadoria da minha exposição em
Pelotas, ele fez uma leitura que é a dele. A partir dos meus quadros ele
fez uma leitura que, por outro lado, não posso discutir, porque há o olhar
do espectador e eu tenho que respeitar; e, quando se trata de uma pessoa
que precisa organizar minha exposição, dificilmente vou brigar com ela
pela leitura que fez. Se acho que é coerente, pode ter uma linha
conduzindo a um tipo de texto com o qual não preciso necessariamente
concordar, mas que é dele. É
claro, você é questionado em determinados momentos, as pessoas perguntam o
que eu acho e então eu digo. Você pode gostar muito de um quadro que eu
não gosto. Acontece. "Ah! esse quadro é maravilhoso", eu digo, "bom". Essa
é uma opinião que não posso discutir, assim como não posso discutir quando
o cara diz assim: "Olha, esse quadro tá uma merda". Se eu expus, se eu
deixei pra expor, se eu sou um pintor, logo, recebamos as batatas. Estamos
aí ao léu. Você pinta um quadro, você submete à crítica ao olhar do
outro. Então, sob esse ponto
de vista, o curador tem todo o direito de olhar para a sua obra como bem
entender. O meu grande problema é ter sido crítico musical muito
conhecido, muito respeitado — até certo ponto, tinha gente que queria me
matar (risos) — e tinha um nome como jornalista, o Randáu está
aqui, fomos colegas no Estadão [O Estado de São Paulo], e eu era um
jornalista normal, um dos bons jornalistas, diga-se de passagem, mas,
enfim, um jornalista como outro qualquer: e eis que tal sujeito depois de
ser crítico musical agora passa a ser pintor? Olha, é muito difícil as
pessoas aceitarem esse tipo de coisa. Ué, onde é que esse cara vai chegar?
Ontem,
eu acho que foi essa moça que me ligou — como é o nome
dela? Ana
Carolina. Enio
Squeff.
Ana, isso mesmo, foi ela que me ligou e disse assim: "nossa, Enio, fui ver
o seu nome na internet e aí você já fez tudo!" (risos). Isso
é um pouco difícil, porque quem faz tudo, faz nada também (risos),
essa é a outra questão. Também não vou me obliterar, como fiz durante
muitos anos, porque eu não podia fazer tudo que achava que podia fazer.
Então, se posso fazer tudo, vou fazer tudo: estou atrás da minha
suma. Tanto que me deixaram fazer o livro sobre os topônimos
[Squeff,
Enio e Helder Ferreira. A
Origem dos Nomes dos Municípios Paulistas, São Paulo, Imprensa Oficial
do Estado, 2004. 312 pp.], eu fiz e desenhei o
livro; me deixaram escrever sobre a Vila Madalena [Squeff, Enio.
Vila Madalena— Crônica Histórica e Sentimental, São Paulo,
Boitempo, 208 pp.] e tudo bem. Outra
coisa: foram para a exposição várias imagens judaico-cristãs, teve também
a presença do candomblé, por que não foi o fauno grego? Enio
Squeff.
Porque eu me esqueci (risos). Não me ocorreu. Poderia ter ido o
fauno, poderia ter ido a Dânae, aí [aponta um quadro na parede],
sendo devidamente... "Cortejada". Enio
Squeff.
É, cortejada ... a palavra não é bem essa, porque o Júpiter está
bem explícito ali (risos). Ela foi muito baseada num dos quadros
que talvez eu mais admire, aquele do Rembrandt [van Rijn], aquela
Dânae que está no Hermitage [museu em São Petersburgo]. O meu sonho
é viajar para a Rússia, ir ao Hermitage, só pra ver aquele quadro.
Um dos quadros mais admiráveis da história da arte. Então,
você tem esse modo de mirar em outros pintores. Enio
Squeff.
Sem dúvida. Isso aqui (apontando para um quadro na parede representando
uma mulher reclinada) não é uma idéia da Maja
[La
Maja Vestida/ La Maja Desnuda, de Francisco José de Goya y Lucientes]? Não
é uma paráfrase? Claro, tanto que eu chamo esse quadro de
paráfrase, explicitamente. Mas
você considera isso técnica ou genericamente? Enio
Squeff.
Genericamente. Digo,
o gênero da coisa ou a técnica? Você faz transposição da técnica, por
exemplo, "tal cara fazia assim e eu faço, etc."? Enio
Squeff.
Não, não. Isso eu não faço, porque aí seria meramente cópia e eu não sou
nenhum [Edouard] Manet pra ter esse tipo de referencial e ir para uma
outra coisa de uma forma até, muitas vezes, explícita. O 24 de maio, que
ele põe lá o fuzilamento do Maximiliano [A Execução de
Maximiliano]... Na
verdade, eu estava pensando em como, por exemplo, os impressionistas
consideravam [Diego] Velázquez; quer dizer, observam um detalhe da técnica
para trazer aquilo para o quadro. Enio
Squeff.
Ah, sim, claro que eu tenho isso. Imagina se eu vou deixar de olhar para o
[Henri] Matisse com o respeito que ele merece, na medida daquele
despojamento que alcança — que provocava a admiração suprema do [Pablo]
Picasso. O
próprio Picasso, essa exposição que a gente viu agora [2004, retrospectiva
vinda do Musée Picasso para a Oca, no Parque do Ibirapuera],
o que me deixou absolutamente estarrecido é o despojamento dele. É do
homem dizer: "eu não sei pintar", para retomar a questão da pintura. Isso
eu faço muito. Acho que a questão da pintura deve ser retomada a cada
momento, e foi por isso que eu comecei a pintar a própria moldura, porque
me incomodava muito essa questão, era sempre "que moldura pôr?". Bom,
então, vamos fazer o seguinte: vamos pôr qualquer moldura, só que
eu vou invadi-la, até para dizer que a moldura não deve ser o limite do
quadro. Aliás, o quadro não deve ter limites, a idéia é a de que você pode
ter um quadro que se espalhe pela parede. E
a moldura, no caso das suas pinturas, tem várias funções: a que confere
uma transparência daquela imagem que vai se esfumando e aos poucos
desaparece — como se continuasse virtualmente pra sempre —, aquela que
cumpre um sentido ornamental... Enio
Squeff.
Sem dúvida: e elas reincidem na idéia de ser pintura.
Isso. Enio
Squeff.
Você calca, você reitera a moldura, até como forma de discuti-la. E é isso
que muitos críticos não olham nos meus quadros, a idéia não exatamente da
expansão da pintura, que é uma coisa mais ou menos óbvia, mas a reiteração
de que aquilo é uma pintura e de uma forma, eu acho, até bastante original
— não que pintura de moldura seja algo original. O
[Gustav] Klimt, por exemplo, fazia isso. Enio
Squeff.
É, o Klimt fazia isso. Mas aí já dentro daquela idéia art nouveau.
Pintando
as referências na moldura: se a temática era grega, havia motivos gregos
na moldura, que é uma maneira diferente de se relacionar com
ela. Enio
Squeff.
Agora, evidentemente, voltando para a história de técnica, você tem a
técnica dos grandes mestres. Eu me lembro que o Iberê Camargo — eu tenho a
carta dele aí — me escreveu assim, quando já estava morrendo, ele me
escreveu: "pinte os mestres". Porque quando ele teve aula com o [Giorgio]
De Chirico, o De Chirico fez essa recomendação, ele foi para o Louvre e
pintou. E o De Chirico viu as pinturas dele e disse: "o senhor pinta os
mestres como um mestre". E
esse era um nome em que eu estava pensando também quando redigi aquela
nota, Iberê Camargo. Grande pintor. Enio
Squeff.
Ah, sim, grande pintor, pintor soberbo e um homem — e isso é que é
fundamental na consideração do Iberê — de uma integridade artística a toda
prova. Sempre levando aquela integridade às últimas conseqüências. Sem
dúvida: Iberê. Por
isso fico pensando: cogitamos uns três, quatro nomes, o [Carlos] Bracher,
o [Arnaldo] Vieira. Por que existe essa situação da pintura no Brasil, de
ninguém saber o que eles [os pintores] fazem? Enio
Squeff.
Eu acho o seguinte: primeiro, não existe um meio econômico muito...
cultivado. Você não tem uma burguesia, um mecenato em cima disso. Você não
tem uma burguesia inteligente: o Brasil já teve uma burguesia que
se preocupou com arte. Você hoje tem umas mentes muito colonizadas, e de
pessoas que vão comprar em Nova York, ou que vão ver qual é a última moda
em Nova York. Eu andei vendo um pintor brasileiro que virou moda em Nova
York, e que portanto virou moda aqui: uma merda de pintor, mas
enfim. É,
mas a Madonna comprou um quadro dele. Enio
Squeff.
(risos) Pois é, a Madonna comprou um quadro dele. Então, quem faz o
artista é quem o compra e não o juízo que você possa ter ou um consenso em
torno do artista. Veja, o Iberê Camargo — um camarada outro dia estava me
explicando — o Iberê Camargo viveu a vida inteira lecionando, e só foi ter
o seu lugar ao sol no fim da vida ... Exatamente. Enio
Squeff ...quando
construiu a casa dele lá em Porto Alegre, conforme ele queria que a
casa fosse. E sendo ele o pintor que é. O [Alberto da Veiga] Guignard, não
se fala, morreu quase na miséria. O [Emiliano] Di Cavalcanti, e assim
muitos outros. E
não só pintores, por exemplo, artistas com uma obra em gravura, como a do
[Marcelo] Grassmann. Enio
Squeff.
Nossa, e o Grassmann!? Você está falando do Grassmann: e o Grassmann, que
está ignorado? Que está tentando vender as suas gravuras e é um dos
maiores gravuristas do mundo? Sem
dúvida. Enio
Squeff.
Esse homem simplesmente está jogado no esquecimento. Onde é que
está essa crítica de merda? Aí
é que está: não são só as pessoas com, vamos dizer, poder econômico, que
poderiam legitimar esses artistas, mas existe um papel da crítica que não
está sendo cumprido. Enio
Squeff.
Que não está sendo cumprido. Mesmo porque, qual é o espaço que a crítica
de artes plásticas tem nos jornais hoje? É o que têm algumas das jovens
que estão escrevendo e são obrigadas a falar sobre déjà-vu, dizer
pela undécima vez que Iberê Camargo é um pintor. É claro, vamos fazer uma
matéria sobre a pintura do Iberê Camargo, que merece sempre ser louvada. E
muitas vezes elas chegam para o editor e dizem: "olha, descobri um pintor
novo que é muito interessante". O editor olha pra ela dizendo: "mas ele é
consagrado? Então, qual é a importância que ele
tem?". Isso
é um problema que me toca muito de perto porque sou jornalista também. Eu
estava hoje com o Randáu — e
com outro amigo — sobre isso, porque há uma crítica muito pertinente de um
jornalista americano, dizendo que hoje as pessoas não se preocupam com que
o jornal melhore de qualidade, mas com que ele corte seus custos para que
a lucratividade dele seja maior. Ou seja: o objetivo não é de que os
jornais sejam diferentes uns dos outros — tanto que você tem fotografias
do Estadão e da Folha que são exatamente a mesma
coisa. No
fundo, os jornais hoje se preocupam com o marketing, ou seja, com o
enfeite da notícia, e não com a notícia em si. Tinha
até uma brincadeira que eu fazia uns tempos atrás: eu e uns colegas
fazíamos uns lançamentos de livros de poesia em que chegavam a ir 400
pessoas, e nem uma linha nos jornais. Aí eu dizia: mas o que acontece? Não
é mais o jornalista que vai atrás da notícia, mas a notícia que precisa ir
atrás do jornalista. Enio
Squeff.
É isso mesmo. O sujeito não sai mais da Redação. Randáu
Marques.
Contenção de custos (risos). Enio
Squeff.
A questão passa a ser o táxi que o camarada vai gastar para conversar com
o sujeito do outro lado da cidade. Randáu
Marques.
Acaba sendo obrigado a entrevistar um artista plástico por
telefone. Enio
Squeff.
E é o que muitos deles fazem. Agora,
pra gente voltar para a vaca fria, a questão da arte brasileira: não há
dúvida nenhuma de que nós nos perdemos, mas o Brasil se perdeu. Quando
você ouve Villa-Lobos, você se pergunta: "mas que Brasil era esse?". É o
Brasil que não existe mais. O Brasil se afastou de Villa-Lobos porque não
era mais o Brasil que Villa-Lobos construiu. Outro dia ouvi um
comentarista idiota dizendo: "ah, ele construiu um Brasil que não existe".
Todo artista constrói um país que não existe, toda arte é uma construção.
Agora, você tem que olhar pra essa arte pensando, que Alemanha, que
Áustria o [Ludwig van] Beethoven construiu? É aquela real? Era, em parte,
sim. Mas por outro lado era uma outra Áustria, um outro momento do
pensamento musical. Não
há dúvida de que nos afastamos das nossas raízes. Muitos professores
começaram a olhar para a questão do nacional como uma questão
conspurcadora, de pecado capital; você não podia ser nacionalista, porque
isso levaria necessariamente ao nazismo, como se as raízes nazistas
estivessem num [Franz] Liszt, ou num Béla Bartók, por exemplo, que tiveram
o olhar para a produção do povo, para a produção coletiva, por assim
dizer. É por isso que a minha pintura se remete também à pintura do
cordel. Ela tem a deformação do cordel. É aí que eu vou buscar de novo a
pintura. Mas
você acha que um crítico desses, que está todo dia arrotando uísque nos
grandes vernissages, vai ter um olhar para esse tipo de produção
iconográfica? Aliás,
li hoje uma frase que achei notável: "ser contra é a melhor maneira de ser
medíocre o tempo inteiro". O grande problema é você ser favorável,
porque quando você diz sim, o sim é uma volição que implica
todas as críticas possíveis que você possa sofrer. Quando você diz, "eu
gosto de determinado artista" — seja ele músico, poeta, pintor,
romancista, etc. —, você está
submetendo o seu juízo ao juízo público. E nada mais normal do que dizer:
"esse sujeito gosta desse artista porque ele não entende nada; porque não
é possível que ele possa gostar dessa coisa" (risos). É claro.
O
problema todo é o da covardia da crítica. Mas há muitos críticos que se
jogam na coisa e dizem: "eu gosto". Randáu
Marques.
Como no caso da Semana de Arte Moderna. Enio
Squeff.
De que alguns críticos disseram, "isso está certo, isso é assim mesmo".
Claro. Então
eu te pergunto: como você, artista,
resolve essas oposições entre mundo e trabalho
intelectual? Enio
Squeff.
Eu me dei conta de que não existe homem ignorante. Existe o homem letrado,
que não é necessariamente o mais indicado para fazer determinadas coisas.
Por isso mesmo nunca me neguei a fazer as coisas, sempre procurei ser um
camarada atuante, sempre me cobraram, "ah, você é um intelectual, logo,
você é um nefelibata" (risos). Não sou nefelibata. É claro que
hoje, se me pedirem para escrever um release, pra escrever uma
bobagem qualquer, realmente me sinto muito irritado, porque acho que posso
ser aproveitado para outras coisas; mas por outro lado, está bem onde
estou hoje. Outro dia um camarada disse, "você está lá, perdido numa
biblioteca", e eu disse (sussurrando) "e fica quieto que tá muito
bom" (risos). Mesmo porque ficar cercado de livros é uma coisa
muito boa para mim. E
o que os quadros representam nesse estado de
coisas? Enio
Squeff.
Você não acha — agora eu faço essa pergunta pra
você... Faça. Enio
Squeff...—
que meus quadros são um tapa na cara de muitos desses críticos que estão
esperando que eu faça instalações e fique num vanguardismo
estéril? Mas
foi por isso que eu vim entrevistar você.
(risos) Enio
Squeff. "Olha,
esse cara está pintando, ele está no suporte tradicional, ele não tem mais
nada que fazer?". Tem o filho de uma amiga minha, aluno dessa turminha de
vanguardeiros lá da USP: ele me olha, me olha, e eu sinto que o olhar dele
é de profunda comiseração por esse pobre-coitado que, além de tudo, até
sabe desenhar — profunda comiseração —, ao invés de fazer "como os meus
professores, que não sabem desenhar, mas em compensação têm grandes
idéias, grandes conceitos". A
atitude que tenho para com eles: eu vou vê-los; a atitude que eu tenho
para com as Bienais, essas besteiras que se faz nos últimos tempos, e eu
vou, o parque temático, o trem-fantasma, eu vou. E algumas
coisas são interessantes e boas; mas o contrário não ocorre. No fundo, as
artes plásticas estão atrasadas. Acho que eu e mais um bom número de bons
artistas estamos respondendo a este momento através de uma atitude que uma
vez um sujeito definiu dizendo assim: "pois é, Enio, você sempre botou a
cara pra bater". Botei. Acho que esse é o meu último momento de botar a
cara pra bater. Randáu
Marques.
E continua incomodando: o silêncio diz tudo. Enio
Squeff.
É, o silêncio diz tudo. Tanto que fizeram matérias sobre o livro
[A
Origem dos Nomes dos Municípios Paulistas], elogiaram as ilustrações — o livro cujo lançamento
casualmente coincidiu com a abertura exposição [Santidades] —, mas
há um mutismo absoluto por parte da imprensa em relação à exposição.
Essa
vanguarda, com esse instalacionismo — o "instalacionismo dominante", até
escrevi sobre isso —, ela está buscando ainda, de novo, aquele efeito
fácil de jogar a lata de tinta na cabeça das pessoas como se isso fosse a
coisa mais interessante. Eu até aconselhei alguns deles: "querem emoções
fortes? vão pro Jardim Ângela, subam a Rocinha" (risos). Vamos
parar de brincar de espantar o burguês. Quando
o [Marcel]Duchamp fazia isso tinha um sentido, quando os dadaístas faziam
isso tinha um sentido, mas era evidente que você não daria dois tiros com
a mesma arma. Enio
Squeff.
Claro, contar a piada dez vezes... depois de certo momento fica ridículo,
vira um lugar-comum. Passa a ser a forma pela qual você elimina a
possibilidade de se dar uma gargalhada. O cara dá um tiro, bum!
"Ah, que interessante", todo mundo leva um susto e pronto. Não se dão
conta de que isso já era, entende? Eu
me lembro do Restany, Pierre Restany, quando ele veio aqui, em plena
ditadura, ele saiu com uma placa em branco ali pelo Viaduto do Chá. Foi
preso — claro, porque se prendiam até placas em branco na época da
ditadura. Um amigo francês, do Le Monde, um jornalista que
acompanhou o caso de quando ele foi preso, disse o seguinte: "esse
cretino, por que ele não escreveu abaixo a ditadura naquele cartaz,
por que ele deixou em branco? Covarde" (risos). É esse tipo de
atitude que essa gente tem, "oh, estou fazendo uma arte revolucionária".
Eu
prefiro deixar que eles tenham o impacto da minha pintura lá numa
exposição bem-feita como foi essa da Caixa Econômica. Se as pessoas
não ficam indiferentes, acho isso muito bom, mas não é o fundamental,
porque eu podia dar um tiro, peidar, sei lá, fazer qualquer outra
coisa. Mas
as pessoas estão começando a ficar indiferentes a isso,
também
(risos). Enio
Squeff.
Agora, à pintura, não. Curioso, isso. Gostaria
de te fazer uma outra pergunta. Agora há pouco estávamos vendo suas
ilustrações para o Dom
Quixote [de Miguel de Cervantes Saavedra]: e a sua obra de ilustrador,
como você vê? Enio
Squeff.
A primeira vez em que fui solicitado como ilustrador eu sabia que seria um
caminho inevitável para a pintura. No fundo, toda pintura é ilustrativa.
Se você olhar para a Capela Sistina [no Vaticano], ela é uma grande
ilustração, uma leitura da Bíblia, uma forma pela qual você divisa
o Juízo Final, etc. Não deixa de ter um caráter eminentemente
ilustrativo. Toda arte figurativa é eminentemente ilustrativa; é claro
que é uma ilustração funcional, no sentido de que parte de um livro, você
tem um texto e você coteja essa ilustração com o texto, sem dúvida.
Eu
acho que a ilustração para mim foi essa porta pela qual eu entrei na
pintura. A pintura não necessariamente ilustrativa, ou que dependesse de
um texto ao lado para que dissesse alguma coisa; e ainda assim permaneço
um ilustrador na minha pintura, no sentido de que, ao me referir a
determinados gêneros, não deixo de fazer uma ilustração da ilustração,
quer dizer, uma ilustração da própria história da arte.
Outro
dia me ligou um sujeito de Brasília — que me pediu pra fazer a edição
artesanal de Os Ratos, do Dionélio Machado — e me disse: "você é
considerado um dos maiores ilustradores desse país". Pessoalmente não me
considero tudo isso que ele achava e que disse que eu era; me considero um
bom ilustrador. E a questão também é essa, há grandes ilustradores que não
fazem aquela coisa espetaculosa que você vê nos livros, porque também há
um viés de espetáculo nas publicações de hoje em dia.
O
que você chama de "espetaculoso", exatamente? Enio
Squeff.
Há uma série de artifícios gráficos para impor um tipo de ilustração que,
no fundo, é medíocre; mas que justamente através desses artifícios
meramente gráficos esplendem. Eu me lembro de que quando fui, durante
muitos anos — quer dizer, nem tantos, menos do que eu gostaria —,
representante da União Brasileira de Escritores para o julgamento
do prêmio Jabuti de ilustração, e isso, é claro, até o momento em que
também concorri, e me lembro de ficar surpreendido porque havia
ilustradores artesanais que faziam coisas fantásticas: me lembro até de um
livro que era uma coisa de [Cândido] Portinari para as crianças, que foi
pintado pelo Rubens Matuck, e que ele fazia uma paráfrase em cima do
Portinari muito bem feita, e até insisti, mas nenhum dos camaradas em que
votei foi jamais premiado. Não porque a Câmara Brasileira do Livro
não fosse acolher, mas porque os outros jurados estavam realmente atrás
daquele tipo de ilustração, meramente de computador, do artifício do
computador e os juízes — não tinha contato com nenhum deles, cada fazia um
juízo independentemente do outro — ficavam muito atraídos pelo
artifício. É
claro que se volta constantemente para a ilustração artesanal. Hoje há
todo um caminho de parte de editores de buscar esse tipo de ilustração — e
quando me chamam, é para fazer isso. Agora, não há dúvida de que há esse
sentido de modismo, quase inescapável. Acho
que como ilustrador até que inovei em alguns sentidos. Aquele livro,
Com palmos medida [Terra, trabalho e conflito na Literatura
Brasileira, organização: Flávio Aguiar; Prefácio: Antonio Candido;
Ilustrações: Enio Squeff, São Paulo, Boitempo, 415 pp.], é uma
inovação em matéria de ilustração de textos literários. Você não
conhece? Não
[Enio Squeff pega um exemplar e me dá]. Eles imprimiram a coisa, te deram
e você desenhou em cima, foi isso? Enio
Squeff.
É... não chegou a ser feito assim, tive de fazer com o computador, mas eu
primeiro desenhei em todo o livro para saber como iria fazer. Fica com
esse aí. Tem
certeza? Muito obrigado. Enio
Squeff.
Você vai ver. O livro é contra esse ilustrativismo maquinal, sem nenhuma
preocupação artesanal, entendeu? Resolvi aproveitar essa chance. Você sabe
que não houve nenhum comentário na imprensa? Ouvi dizer que olharam, e o
comentário: "coisa de barbudo, coisa do MST". Você vê que é todo um viés
político por trás disso. (rindo)
"Coisa de barbudo". Isso é realmente engraçado. Enio
Squeff.
Quer dizer, independente de ser bom ou ruim, já ajuízam a coisa a partir
de um ponto de vista político. As
pessoas têm esse bom hábito de olhar para as coisas com um ponto de vista
cuidadosamente formado. Enio
Squeff.
Claro. Mas
não é o que costuma acontecer nos períodos em que a arte está se
expandindo, ou funcionando. Enio
Squeff.
Exatamente. Mas eu não tenho dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, a
arte que eu e mais essa meia-dúzia estamos fazendo, será considerada um
grande momento da arte brasileira; agora, não tenho dúvida, também, que
pra que isso aconteça talvez a gente tenha de ir para a cova antes.
Mas
o fato de você estar me entrevistando já é um primeiro momento em que
algumas pessoas estão dizendo "olha...". Mas
eu sou um independente (risos), orgulhosamente, mas um independente
(risos). Enio
Squeff.
Mas é por isso mesmo. Isso que é importante. Vem um crítico, que é um
poeta, que está de fora e diz: "eu vou assinar embaixo". Alguém tem que
começar a romper essa camisa-de-força. É
claro, tenho muitos amigos na imprensa. Agora deve sair uma matéria,
acredito que vai ser uma matéria interessante, na Gazeta Mercantil.
Mas aí é porque a gente também tem amigos. Tem uma frase de um escritor
americano que diz assim: "artistas que vivem até certa idade" — ele
evidentemente está falando de bons artistas — "acabam se impondo porque os
amigos que eles têm assumem o poder" (risos). É claro, os amigos
que eles têm assumem o poder. Você
sabe que o [Eugène] Delacroix era filho do [Charles Maurice] Talleyrand
[-Périgord], não sabe? É, Delacroix era filho natural do Talleyrand, que
foi ministro, primeiro do Napoleão, depois dos Bourbons. Nunca faltou
emprego pro Delacroix: havia momentos em que ele estava numa banana
tremenda e, de repente, vinha uma encomenda lá da prefeitura de uma cidade
no interior da França, que era o velho Talleyrand, dizendo: "olha, dá um
emprego pra esse guri, é o meu filho" (risos). Quer dizer, um
acidente histórico beneficiou um dos grandes gênios da história da
pintura. Graças a Deus, que bom, que maravilha. Mas
a conclusão daquele escritor norte-americano — é o que escreveu
Olympia, morreu há pouco tempo, e fez um grande panorama da arte do
Impressionismo, desde Manet até o final; fez um panorama da sociedade da
época, porque queria escrever sobre os pintores, mas recolheu tanto
documento que acabou fazendo esse panorama — era a da que então haveria
encomenda de obras. Esse lugar ao sol que eu tenho lá em Itaquera para
fazer aquele grande painel, não há dúvida de que tem a ver com contatos de
gente que me conhece e têm a possibilidade de decidir e dizer: "vamos
encomendar essa coisa pro Enio Squeff". É,
eu espero que as coisas realmente mudem e fiquem assim: todos os que têm
qualidade terão sua vez, e enquanto
estão fazendo suas obras. Enio
Squeff.
Enquanto estão fazendo, claro! Randáu
Marques.
Como o tempo, sem dúvida. Enio
Squeff.
É, mas... como é aquela música? "Se vão fazer alguma coisa por mim, que
façam agora". Acho que é do Nelson Cavaquinho. Não há dúvida. Como eu
espero não morrer daqui há uns três ou quatro anos, provavelmente minhas
coisa vão ser valorizadas. Um arquiteto outro dia me ligou
entusiasmadíssimo com o que viu, querendo saber os preços das obras, etc.
Nada mal. Mas se eu dependesse disso aqui... a cartilha continua. Esses
babacas da vangarda ocupam todos os espaços possíveis. Quando o dono de
uma instituição põe uma obra de vanguarda não há um crítico que vá dizer
que aquilo é uma merda. Acho
que você é muito generoso chamando certas coisas de
vanguarda. Enio Squeff. É verdade, vanguarda usando a expressão que eles mesmos... usando ironicamente essa expressão. Na verdade, de vanguarda eles não têm nada, são uns repetidores, são acadêmicos. É muito interessante que hoje a vanguarda esteja instalada na universidade, ela apenas defina o seu papel hoje, de é ser acadêmica.
Muito
bem. Agradeço a gentileza da entrevista e agora, parafraseando o
[Antônio]
Abujamra naquele programa dele [Provocações] diga livremente o que
você quiser dizer para encerrar essa história
toda. Enio Squeff. Hei de vencer (risos).
|