JF - Os primeiros rabiscos. Começou com
poesia, prosa ou teatro? E o que te fez entrar no universo da
leitura?
MB - Histórias em quadrinhos. Aprendi a
ler com histórias em quadrinhos. Meu tio era surdo e como não podia
assistir tevê, ficou viciado em histórias em quadrinhos. Tinha um
guarda-roupa cheio. Passava as tardes lá, lendo. O dia que passava sem
ler gibi, entrava numa trip muito ruim. Ficava cold Turkey total. Quando
entrei na escola, já sabia ler, tanto é que entrei no meio do ano e
terminei como o "segundo melhor aluno" da classe. Lembro que ganhei um
tecido pra fazer uma camisa, algo assim. Meu irmão desenhava e escrevia
histórias em quadrinhos meio que de brincadeira. Então comecei a fazer a
mesma coisa. A primeira coisa que escrevi foi histórias em quadrinhos.
Desenhava em papel de caderno, escrevia as histórias e depois montava um
gibi com numeração e tudo o mais que tivesse direito. Tinha a minha
Editora MB.
JF - Como foram os primeiros anos em São
Paulo?
MB - Difíceis, mas educativos. Nos
primeiros quatro meses, não tinha lugar pra morar. Ficava andando com
uma mochila nas costas, procurando um lugar pra dormir. Dormi em vários
hoteizinhos vagabundos de 10 reais. Daqueles que uma puta já te atende
com os peitos de fora e as paredes são tão finas, que é impossível
dormir sem ouvir trilha sonora de pornochanchada. Às vezes, dormia na
casa de amigos, mas não gostava de abusar. Então, quando dormia na casa
de um Brother, passava pelo menos quinze dias sem pedir pra dormir de
novo. Pra não encher o saco de ninguém. Se tinha 10 reais, já ia direto
prum hotelzinho do centro e foda-se. Comia cachorro quente do centro e
churrasco grego. Comecei a dar aulas de teatro numa escola de periferia
de Utinga e consegui alugar um quarto na Monsenhor Passalacqua. Tudo foi
melhorando gradativamente.
JF - Fale um pouco dessa vivência, essencialmente
urbana, do seu berço natal até onde hoje você se encontra.
MB - Costumo dizer que só sei escrever
sobre vivência urbana. Não sofro de Síndrome de Mazzaropi e não há nada
que me interesse fora dos grandes centros urbanos. É onde me sinto à
vontade. Gosto de andar à tarde pelo centro da cidade de São Paulo.
Gosto da balbúrdia toda, me sintonizo com a cidade e respiro junto com
ela. Quando escrevo, os sons da cidade são a minha trilha sonora
predileta.
JF - Mais uma vez, pela milonésima, o que é e
como funciona na prática o Cemitério de Automóveis?
MB - É o grupo que fundei em 1982 com dois amigos de
Londrina. Eu continuo com o grupo desde então. Atualmente, há mais
quatro pessoas além de mim (Fernanda, Gabriel, Wiltão e Marcelo
Montenegro). Há também uma porrada de colaboradores. Fizemos, em 2002,
uma mostra com 79 atores. O Cemitério de Automóveis não
é apenas um grupo de teatro nos moldes clássicos de "grupo de teatro",
mesmo porque não me interesso apenas por teatro. É uma plataforma de
lançamento de livros, peças de teatro, shows de música e cinema. Estamos
fazendo agora o primeiro filme, que é uma adaptação da minha peça
Getsêmani. E deve sair em breve o livro O Bar
da frente — trajetória teatral e etílica do grupo Cemitério de
Automóveis, contando toda a história do grupo. É o único grupo
capaz de fazer uma mostra com 26 peças, 79 atores, em três meses e com
duas semanas de ensaio. E o mais louco é que funciona.
JF - Bukowski ou Henry Miller? E por
quê?
MB - Bukowski, sempre. Sou fã de Henry
Miller. Li todos os livros dele. Mas Bukowski é o maior de todos. Minha
maior influência, desde o dia que li Cartas na rua, na
Biblioteca de Londrina. A poesia do Velho Buk é áspera, cortante, e
sofisticadíssima, embora não pareça sofisticada à primeira vista e a
partir de uma leitura mais superficial. Por baixo de toda a aparente
simplicidade dos textos dele, há um lirismo exacerbado e de alta
sofisticação. Cuidado com o que parece simples. Muito cuidado.
JF - Nos ditos anos de formação (que só
terminam quando se morre) leu e viu teatro brasileiro? O
quê?
MB - Eu vi mais do que li. Minha formação
teatral é de Festivais de Teatro. Sempre que pintava um festival que
oferecia rango e alojamento durante uma semana, a gente se inscrevia.
Podia não ter grana, e quase nunca tinha mesmo, mas só o fato de ter
comida e um ginásio de esportes pra dormir durante a semana, já tava
valendo. Ficamos mais de quinze anos participando de festivais. Então vi
de tudo. Todos os Nelsons, Plínios, Vianinhas e todos Tchecovs e
Shakespeares. Poucas montagens eram boas, isso é verdade, mas é sempre
melhor assistir teatro do que ler teatro.
JF - Já perdeu a conta de quantos inimigos
matou em seus escritos? Fale sobre um que você teve o
prazer.
MB - Cara, nunca tive prazer real em
matar ninguém. Já me matei várias vezes. Mas metaforicamente falando, há
uma cena na peça À queima-roupa, que eu acho foda. O
cara é um psico killer e tá comendo um cachorro quente na rua. Um
mendigo loser total, chega pra ele e conta como é um fudido, como perdeu
a mulher, a filha, o amigo e até o cachorro. Como tiraram tudo dele. E
ao final da história pede um pedaço de cachorro quente pro cara, que
então engole o último pedaço de cachorro quente e diz: "Qual é, cara?
Este é o meu cachorro quente". Coloca um revólver na mão dele e vai
embora. O mendigo então, depois de um momento de hesitação, empunha a
arma e aponta pra platéia, decidido. Black-out.
E quanto aos inimigos, peguem a senha e entrem na fila.
Não esperem que eu vá atrás de vocês. Não tenho vocação pra Frank
Castle.
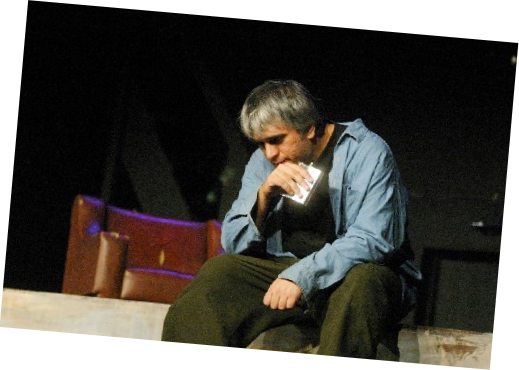
JF - Quantas peças suas foram encenadas?
Alguma no exterior?
MB - Mais de 40 peças, pelo menos, já
foram encenadas. Houve uma montagem de uma peça minha em Portugal, mas
era montagem em faculdade de teatro. Houve leituras públicas na França e
em Portugal e deve rolar outra no México ainda esse ano. E vai sair
agora a tradução de Nossa vida não vale um Chevrolet,
na França. Parece que rolou uma leitura na "Comédia Francesa" em
Paris.
JF - Você vê muito quadrinho e cinema. O que
tem visto e achado interessante?
MB - O que eu vi de melhor em cinema esse
ano foi Sin City, que é justamente o casamento mais
feliz de quadrinhos com cinema. E tô na fissura de assistir
Factotum, adaptação cinematográfica do livro do
Bukowski. Em quadrinhos tem saído muita coisa bacana. A Conrad tem
publicado vários Crumbs. Blues é obra-prima. Acompanho
também, religiosamente, o 100 Balas do Brian Azzarello.
E leio tudo que traz a assinatura de Garth Ennis, Brian Michael Bendis,
Bruce Jones, Greg Rucka, Warren Ellis, Mark Millar e do Grande Giancarlo
Berardi.
JF - O que vê em televisão?
MB - Quase nada. Quando a MTV passava
videoclipes, ainda costumava deixar a tevê ligada, de preferência sem
som, enquanto estava escrevendo. Mas há muito tempo não ligo a tevê. Até
gostaria de assinar uma tevê a cabo pra assistir algo, já que sempre
gostei muito de tevê. Mas é que a tevê aberta tá realmente impossível.
Tô torcendo pra que a novela Bang Bang estabeleça um
diferencial, já que alguns amigos meus estão escrevendo-a (Reinaldo
Moraes, Mário Prata e Chico Matoso).
JF - Assinou o Manifesto Literatura Urgente? Se
sim, tem acompanhado o desenrolar na imprensa e o que acha?
MB - Eu não assinei. Acho legal a
iniciativa do Pinduca (Ademir Assunção) e da rapaziada que está
encabeçando o projeto. São caras da minha mais alta estima, confio
cegamente neles, mas tenho como princípio não participar de nenhum
movimento organizado ou desorganizado. Mas o cara da "Veja" foi bem
mal-intencionado ao criticar o movimento. Achei palhaçada da parte
dele.
JF - O que é estar vivo e ser para Mário
Bortolotto?
MB - Sei lá, Brother. Tá no pacote,
né?
JF - Como encara a velhice e a
morte?
MB - Cada dia que passa, fica mais
próximo. A gente vai se divertindo. Tem um poema meu que tem um verso
assim: "Morte nenhuma me redime / viver tem sido meu único crime".
JF - Difícil conceber escritores hoje em dia
que, de uma forma ou de outra, não lidem com o fantasma da decadência,
quando não, com a extinção da espécie. Segundo os teóricos, fala-se até
mesmo em atraso biológico. Acredita numa melhora espiritual e
socioeconômica do homem? Comente.
MB - Não acredito em grandes revoluções
sociais. Só acredito em revolução individual. Um sujeito no interior da
Bahia — apesar de todas as adversidades, e de ter nascido com a
carta virada do avesso — ainda assim, caçar e devorar literatura da
maneira mais primata possível e se tornar um dos escritores mais
inventivos e originais da nova literatura brasileira. É claro que eu tô
falando de você, Brother. É nisso que eu acredito.
JF - Você sempre foi um entusiasta da escrita
do Jorge Cardoso que, em 2004, publicou "Mal pela
raiz", pela editora Baleia. Fale sobre.
MB - Jorge Cardoso é um católico louco,
como já era Kerouac. Sua escrita, mística, sanguinária e esquizóide, me
influencia e me fascina. Sou católico como ele (e como Kerouac) e
consigo sacar de onde vem toda a violência e solidão devastadora. Seus
textos têm uma força e uma originalidade difícil de identificar e
traduzir. A crítica brasileira é excessivamente míope, por não ter ainda
percebido a riqueza da literatura do cara. Quando perceber, a porrada
vai ser forte, pode ter certeza. E aproveito aqui para lamentar o fim da
Editora Baleia, que publicou além de Jorge Cardoso, o seu livro que é
fudidaço e ainda o ótimo Pornografia pessoal de um ilusionista
fracassado do Nilo de Oliveira.
JF - Volta e meia confundem, principalmente os
mais jovens, a vida pessoal do homem com a do escritor Bortolotto. Como
você lida com isso?
MB - Não dissocio. A minha vida pessoal
se confunde com a do escritor. Eu sou escritor e ponto final. Só não
gosto quando pensam que eu sou um porra-louca tempo integral, como
alguns personagens meus. Até sou porra-louca, mas não tempo integral.
Costumo ser de madrugada, completamente bêbado e fazendo cagada. Mas
durante o dia, costumo ser um profissional exemplar.
JF - O tipo de vida que você leva, dá pra
tirar férias, ou são como férias paulistas, tiradas enquanto
trabalha?
MB - Férias? Ando planejando há quinze
anos. Estive no Festival de Cinema de Fortaleza esse ano, a convite do
Festival, porque estava sendo exibido um curta em que eu trabalhava como
ator. Quando me dei conta e olhei pela janela do hotel para aquele mar
estupidamente bonito, percebi que estava em férias. Eram involuntárias e
não premeditadas, mas eram férias.
JF - Algum trabalho novo sendo escrito?
Qual?
MB - Tem o livro do grupo [Cemitério de
Automóveis], que eu tô terminando. E também tô escrevendo mais dois
livros. Um é a continuação do romance Mamãe não voltou do
supermercado, em que eu retomo o personagem do livro. Chama-se
Billy, a garota e, assim como no primeiro,
persegue a tradição pulp. O outro chama-se Cinco estrelas em
Copacabana e é a história de um diretor de teatro pobretão, que
ganha uma permuta de um mês num hotel cinco estrelas em Copacabana, mas
não tem dinheiro pra tomar um chope sequer na praia.
JF - E sua banda? Fale
sobre.
MB - A gente entra em estúdio ainda esse
ano. A banda chama-se Tempo Instável. O nome do disco
deve ser Desagradável. Tem um clima cool jazz
vagabundo. É uma puta banda com músicos geniais e um vocalista picareta
(eu), tendo à frente o meu parceiro, o Maestro Marcelo Amalfi.
JF - Qual o seu cachorro engarrafado
predileto? E como combate a ressaca monstro?
MB - É o velho Jack. Não dá pra beber sempre,
já que o orçamento não permite, mas tenho sido presenteado com garrafas
do gênero. E eu combato a ressaca com muita água e um novo porre na
noite seguinte. Alguns poemas do Dylan Thomas também costumam ser
mais eficazes que qualquer Engov. Não há nada mais embriagante que
boa literatura. Acho que você sabe muito bem disso.
outubro,
2005
Mário Bortolotto (Londrina-PR,
1961). Escritor, dramaturgo, ator, diretor e músico. Ganhou em 2.000
o Prêmio Shell de "Melhor Autor de Teatro do Ano" e também o Prêmio
APCA pelo "Conjunto da Obra". Atualmente, mora em São Paulo. Publicou
Mamãe não voltou do supermercado (romance, Atrito
Art, 1996); Seis peças de Mário Bortolotto - Vol. 1
(Atrito Art, 1997); Para os inocentes que ficaram em casa
(poesia, Atrito Art, 1998); Seis peças de Mário Bortolotto
- Vol. 2 (Atrito Art, 1998); Gutemberg Blues
(artigos, Atrito Art, 2002); Bagana na chuva (romance,
Ciência do Acidente, 2003); Sete peças de Mário Bortolotto
– Vol. 3 (Atrito Art, 2003); Doze peças de
Mário Bortolotto – Vol. 4 (Atrito Art, 2004). Escreve o Atire No Dramaturgo.
João Filho (Bom Jesus
da Lapa, sertão, 1975). Poeta, escritor, vive em Salvador da Bahia.
Publicou Encarniçado ou anotações dum comedor de cânhamo
(São Paulo: Baleia, 2004). Escreve o Hypperghettos. Mais aqui e aqui.

