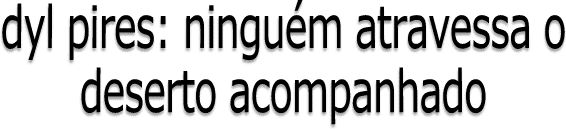/
A cultura das partidas do pra sempre. Esse acúmulo de terra nos olhos. Uma textura difícil de se reter por muito tempo na memória são das vozes da finitude que já se foram. Um guardar de louças entre palavras de nunca mais! A massa sonora vai se tornando pedaços de murmúrio, chiados, uma frase incompleta no tempo. Meu exercício diário é gravar a arqueologia sonora dos afetos. Sentir é território permanentemente isolado.
/
Uma cidade atravessada por um rio morto. Um cadáver permanente na sala. Um ar espectral soletrando um poema concreto. Uma cobra-metrô: Dodeskaden que carrega uma cidade despresente. Às vezes há um grande sol, um extraordinário entardecer, uma maravilhosa manhã. Como uma grande palavra esquecida que chega. Mas rapidamente as pessoas retornam à cobertura gris das pálpebras e o cavalo dos olhos volta a galopar a neblina dos dias.
/
Os Bandeirantes são os mais fotografados. Por trás de cada click há o concreto. Por baixo de todo o concreto há uma floresta muda. Lá ainda ouço o som do rio a correr pela garganta dos últimos índios.
/
O olho vigilante da serra. Os corpos-caminhos na saliência de águas do longe. O vale aberto da distância é um chamamento erótico.
/
A chuva cavalga relâmpagos iluminando o pequeno coração do bem-te-vi. Pela manhã o milagre do canto na garganta da claridade.
/
A respiração amorosa da memória. Um trem cortando a floresta alta do coração.
/
O bocejo-oráculo do rapaz dentro do ônibus. O lento atravessar da velha mendiga. O alarme da aurora na xícara de café. Os braços abertos da calçada iluminada numa manhã de janeiro. O dia se pondo em pé como um jato d'água esticando o pescoço no tempo.
/
Com o que se sonha hoje em que os ossos não confabulam mais a grande orquestra do tempo nos corpos? As dores do parto do grande tambor do caos chamam pelo quê? Essa grande lona por onde um palhaço se apresenta, gira e atravessa, investigando na montanha de dentes a alegria sem mel que pesa sobre a arquibancada. Esse fazer do meio da avenida uma estrada de terra e se pôr a ouvir o galo a cantar. Roupas no varal pingando sobre vidas esticadas como se estivessem mortas. A tempestade não próspera da tarde. A nuvem escura é uma tesoura amolada sobre cabeças cinzas do futuro. E de resto a lira e o aedo agora coaxam dentro do grito digital da vida.
/
Na cidade em que o barulho das buzinas é maior que o choro da menina, vai chover.
/
Há momentos em que se faz necessário enxergar o que já é embriaguez em desuso no coração da própria sensibilidade.
/
Que Raduan Nassar tenha desistido da literatura por um sentimento de fracasso. Ou, por haver "um excesso de verdade no mundo". Que a Hilda Hilst não tenha desistido, mas que tenha passado a vida toda com esse mesmo sentimento pegado à presença. Que Vieira tenha feito um sermão aos peixes. Que Clarice tenha matado os peixes. Que a Hilda tenha criado peixes de papel no aquário. Que em Amélie Poulian um peixe mergulhe na escura piscina da noite.
/
Ninguém atravessa o deserto acompanhado.
[Poemas do livro queria falar do deserto dos dias apressados. Chiado books, 2019]
março, 2020
Dyl Pires vive em São Paulo entre ações poéticas e teatrais. Dele já disseram: "misto de sátiro com coisinha ausente". Acreditou. Publicou os seguintes livros de poesia: o círculo das pálpebras (Func, 1999), o perdedor de tempo (Pitomba, 2012), o torcedor (Pitomba, 2014), éguas (Pitomba, 2017) e queria falar do deserto dos dias apressados (Chiado Books, 2019).
Mais Dyl Pires na Germina
> Poesia 1
> Poesia 2