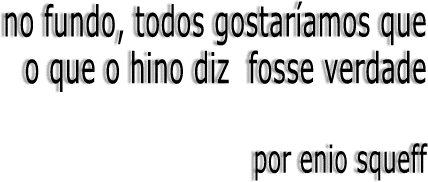O tema da independência do Brasil continua a render discussões e muito dificilmente assumirá seu verdadeiro sentido, a não ser, quem sabe, quando ficar assente, por fim, que "somos independentes". Entre os intelectuais norte-americanos, franceses ou mesmo italianos, espanhóis, portugueses, a questão mais relevante parece se dar, não pelo que o passado lhes indica, mas pelo que o futuro lhes reserva. Mark Twain (1835-1910), grande escritor norte-americano, constatava, no fim do século XIX, que a nação norte-americana tinha o melhor parlamento "que o dinheiro podia comprar". Era-lhe evidente que a corrupção campeava em seu país, o que nem de longe o desanimava para a crítica; ou para uma visão mais pessimista do futuro. Nem ele, nem seus pares punham em dúvida que os Estados Unidos fossem uma nação poderosa e que tinha conquistado sua independência a despeito das mazelas que persistem em todos os países. Talvez, quem sabe, nunca se esfalfassem em torno do que é mais ou menos consensual entre os intelectuais brasileiros à esquerda e à direita: de que, ao contrário do que diz o nosso Hino, na verdade não conquistamos o "penhor" de nossa igualdade "com braço forte".
O que está mais ou menos acordado, pelo contrário, é que Dom Pedro I valeu-se de uma conjuntura internacional favorável, com os interesses ingleses a incentivar que o comércio com o Brasil se fizesse sem a intermediação de Portugal; e que o Brasil era um rico filão para os países colonialistas, ou seja, esses interesses todos que, no fim das contas, redundaram numa independência que não se fez em morte, em muitas mortes, como sugeria a alternativa proclamada pelo primeiro imperador brasileiro, às margens do Ipiranga. O resto, como se sabe, seriam os mitos que servem para tudo — tanto de que o Brasil nunca será uma grande nação, por não ter se derramado em sangue seja pelo que for (o que não é verdade), quanto pela idéia de que somos uma nação do tamanho que temos, por pura obra do acaso (o que também é falso). Não é por nada que um dos versos mais contestados da letra de Osório Duque Estrada para o Hino Brasileiro, seja aquele que afirma ser Brasil, um país "deitado eternamente em berço esplêndido". Aliás, em relação ao "berço esplêndido" os ambientalistas têm plena consciência de que não é bem assim, pelo menos quanto ao que éramos e estamos arriscados a ser: já agora o esplendor das florestas vem cedendo à destruição, ao deserto — isso tudo que se conhece. Quanto ao "deitado eternamente", quase impossível não considerá-lo uma espécie de maldição para todo o sempre: a de que não sairíamos da imobilidade a que "fomos condenados" desde o ‘Descobrimento".
Não é uma opinião unânime certamente: Gilberto Freyre, à direita e Darcy Ribeiro, à esquerda, tentaram uma gênese do Brasil até que bastante otimista. Gilberto Freyre a repetir sua tese sobre a "democracia racial", Darcy Ribeiro a cantar uma mestiçagem sem culpa e a mostrar, aqui e ali, que o Brasil é mesmo um gigante "pela própria natureza" (o que não está rigorosamente errado). E que, com tudo de ruim que ostentou ou ostenta, o Brasil estaria mesmo "condenado ao progresso" como queria Euclides da Cunha.
No fundo, eram essas algumas das questões postas durante a Ditadura Militar. Por nos obrigarem a ouvir, por qualquer toma lá dá cá, um Hino Nacional todo encomiástico (como sói acontecer com os hinos), havia virtualmente (pelo menos no mundo intelectual), a tendência nunca contestada pela realidade opressora do regime, de que, a continuarem as coisas como estavam, o nosso futuro nunca "espelharia" qualquer grandeza. A rigor, na época, ninguém jurava que a "Pátria Amada" fosse a "Mãe Gentil" dos filhos que vivessem em seu solo. Recorda-se que o governo militar incentivou a destruição das florestas e que o êxodo rural, desencadeado a despeito dos "risonhos lindos campos", cada vez com menos flores e dos bosques com sempre menos vida, era justamente a face cruel da "ordem" e do "progresso" implantados pela Ditadura. Dito de outra forma: o Brasil "de um sonho intenso", de "um raio vívido" a baixarem à terra, com a "imagem do cruzeiro" que resplandecia, era apenas uma letra fátua: o Brasil não aparecia como um país de amor, muito menos havia qualquer esperança Logo, seria óbvio que, com o fim do regime militar, houvesse uma espécie de remissão do Hino: ele voltaria ao repertório das boas intenções acalentada até mesmo pelos cépticos. Digamos que se reabriram algumas esperanças de que o "heróico brado" de um povo postado à margens de cá do riacho Ipiranga , fosse, por fim, suficientemente "retumbante" para que os raios da liberdade brilhassem no instante seguinte. Até agora, porém, descontados todos os problemas que nos desafiam, inclusive "à própria morte" (a violência está aí, quase incólume), cultivamos a idéia, de que o povo nosso "não foge à luta". E que talvez adoremos a "pátria amada idolatrada", sem temor da própria morte. Pode ser. Mas o que ainda falta, a desafiar tudo, é certamente o que só se faz na história e que não desmerece a consideração de Mark Twain a qual podemos perfeitamente transplantar para o Brasil, com o adendo, porém, de que "a clava forte" da Justiça só se ergue na urgência de alguns interesses. Se, afinal, já não temos mais censura, nada nos indica que a verdade seja o que mais sobeje.
Quando foi proclamada a República, em 1889. o governo provisório brasileiro promoveu um concurso público para a escolha de um novo Hino Nacional. Os vencedores foram Leopoldo Miguez (1850-1902), autor da música, e Medeiros e Albuquerque (1867-1934), cuja letra do estribilho alardeava "Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós / nas lutas, nas tempestades / dá que ouçamos tua voz". Era um canto libertário, também em música (Leopoldo Miguez foi melhor compositor que Francisco Manuel da Silva), o qual aclamava alto e bom som, um país sem peias, aberto à democracia plena. Por razões, porém, que talvez o "estar deitado eternamente em berço esplêndido" o explique, entre acatar o voto popular, que escolheu o novo hino e ficar com o antigo — de Francisco Manuel da Silva, ao qual seria aposta, mais tarde, a letra de Osório Duque Estrada, — o então presidente, general Deodoro da Fonseca, preferiu o hino de seu "tempo de juventude" que é o que temos hoje. Cogita-se que a idéia de liberdade cantada e repetida no estribilho do atual "Hino da República", não seria lá de agrado dos militares que derrubaram Dom Pedro II. Fica, assim, o pressuposto de que talvez seríamos realmente muito mais "o florão da América" com um hino que cantava a liberdade, do que o que apenas constata vivermos, "eternamente" num país que fulgura "ao som do mar e à luz do céu profundo,(..) iluminado ao sol do Novo Mundo".
Registram-se, enfim, muitos equívocos nas comemorações patrióticas — mas há um espaço e um tempo para muito de verdade também: é o que nos induz a que saudemos a "pátria amada", apesar de tudo.
setembro,
2007