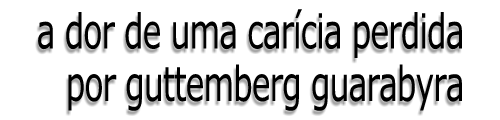Seu Wilson, o dono do bar, lançou-me um olhar vago, de desmemoriado ou de quem já pensa em esquecer a cena, embora ela ainda estivesse ali, à sua frente, vivíssima. Aliás, vivíssima uma ova. Empreguei o termo como pura força de expressão, porque o suicida estava mais do que morto, sentado no chão e recostado à pilastra do botequim. Os que assistiram ao desfecho da vida daquele desconhecido repetiam para os recém-chegados, como eu, o que havia se passado: o homem pediu um guaraná, colocou um pozinho dentro do copo, solicitou uma colherinha para mexer, misturou o composto muito bem e tomou tudo de uma só vez. Em seguida, foi recostar-se à pilastra. Cinco minutos depois, deu um gemido, levou as mãos ao estômago e foi escorregando devagarinho até o chão.
Seu Wilson só desfez o olhar desencantado quando pedi para ver o copo. Como se tivesse saído de um transe, murmurou algo ininteligível e trouxe o recipiente, ainda com a colherinha dentro e envolto em um guardanapo. Alertou-me para que não tocasse nele, pois a polícia talvez precisasse das impressões digitais para identificar o sujeito. Mal disse isso, entrou uma mulher esbaforida e, apartando a todos, correu em direção ao cadáver. Gritou: "Carlos!", e teve um troço. Foi amparada por muitos braços que a puseram numa cadeira, enquanto alguém providenciava água com açúcar. Logo que se acalmou, vieram as perguntas: "A senhora o conhece?", "De onde?", "O que fazia?". A mulher, embora mais tranquila, ainda permanecia em estado de choque e nada respondia, apenas balançava seguidamente a cabeça, com certeza tentando se livrar da imagem e até do fato. O cadáver, nesse momento, restava esquecido e abandonado.
Aproveitei para chegar perto do desafortunado e observá-lo melhor. Vestia calça e paletó cinza com listinhas brancas verticais. O terno, percebia-se, já se encontrava um tanto puído; mas a camisa social, sem gravata, era nova. Da mão direita, bem fechada, escapava um pedacinho de papel. Agachei-me para olhar bem de perto, quem sabe não seria um bilhete? Atento à minha observação, seu Wilson esclareceu-me de que se tratava somente do papel que trazia o veneno. "Carlos!", a mulher gritou de novo, de repente, levantando-se e aproximando-se do morto. Repetiu dezenas de vezes o nome enquanto suas mãos o acariciavam, tentando ainda incutir-lhe um pouco de vida.
Contou que o conhecia de vista e de cumprimento. Moravam próximos, num lugar solitário e ermo dali da periferia. Revelou, apesar de ser muito reservado, que vivia e andava sempre sozinho, que não gostava de jogar papo fora e que apenas pôde conversar melhor com ele cerca de dois anos antes, quando ele hospedara um irmão que o visitava. Naquela ocasião, Carlos só se aproximou dos vizinhos para tentar mostrar ao mano que levava uma vida normal, que se relacionava bem com a vizinhança, etc., etc. Mas, assim que o irmão se despediu, ele voltou a ser o que era. Ana Maria — era esse o nome da mulher que agora o velava —, que também vivia só, depois de acariciá-lo muito, confessou-se apaixonada. Único motivo, aliás, pelo qual, notando que Carlos se tornava cada dia mais deprimido, passou a vigiá-lo. Disse que era a terceira ou quarta vez que o seguia até o boteco de seu Wilson — fato que o dono do bar confirmou.
Enfim, depois que veio o rabecão e o levou, tudo o que restou de Carlos foi isto: um copo com formicida, uma paixão viva e a dor daquela carícia tardia, além de uma casa sem vida, solitária e vazia abandonada num ermo qualquer. Que vida besta, meu Deus!
dezembro, 2021
Nota da editora: essa crônica foi publicada no livro Teatro dos Esquecidos, de Guttemberg Guarabyra (Londrina/PR: Thoth, 2020, 242 págs.). Clique aqui para a versão em papel. Clique aqui para a versão em e-book.