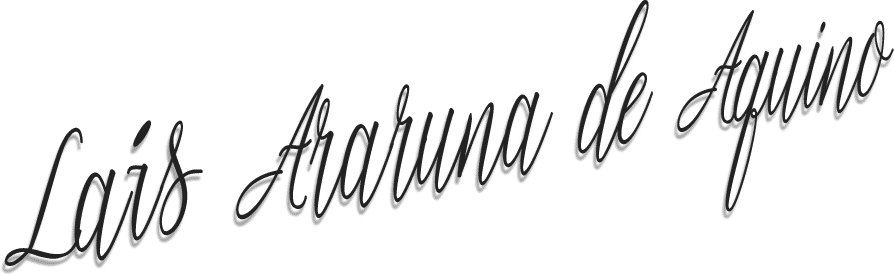HIPÓTESE
Saberíamos nós viver à luz tépida do dia
ou sob a sombra amena, felizes, na festa dos sentidos,
enquanto rumamos, a despeito do curso, ao oceano
onde tudo se nulifica?
Poderíamos nós, tal como somos, clarividentes do fim,
renunciar ao significado e transbordar como as flores efêmeras
das árvores em explosão de cor e forma —
textura aberta ao contato do mundo?
Desejaríamos, leves como o pó, ser carregados na língua do vento
e sepultar o insepulto livro babélico do universo,
que vigeria em uma plena abertura —
livre de portas e entradas?
Ou somos nós senão o desvio de Deus ante o silêncio
cansado do eterno? E, nesse desvio, teríamos de nos cumprir
como quem vê no labirinto o indício de uma face
que não se mostra?
Ou haverá um tempo em que os jogadores deitaremos
ao tabuleiro a nossa condição, exauridos de traçar, entre os pontos
aleatórios do caminho, um novo dédalo —
desígnio para um sentido de que apenas se falou?
Nessa última hipótese, Deus é devolvido ao tédio primeiro,
mas livra-se do pensamento dos homens.
Quanto a nós, afundamos no instante de pássaros e estações,
devolvidos a uma vida não abstrata, apreensível —
como uma língua
que nada enunciasse
O POETA RETORNA COM AS MÃOS PENSAS E VAZIAS
Em certas manhãs frias de verão,
ou quando a noite é alta e imperturbável,
vê-se uma ausência sem nome
palmilhar a distância
entre o teu ser e os elementos do mundo —
como um homem buscasse
no deserto
a face.
Então de súbito te percebes
desenraizado nas aparências;
não há chamados, as texturas nada predicam, mas
se mostram, as exuberantes — à rapina cega
da existência,
agora devolvida a um puro exterior,
indiferente às remissões que trazes
na voz e te acordam um tempo originário
que não viveste.
Não são as coisas que vibram como
pedras sequiosas da tua voz.
És tu quem as atravessas, a todas, tentando
reunir os inexistentes estilhaços do eterno.
Bem sabes que nada se quebrou, que essas partículas
não são salvados, mas pretextos contra o silêncio
terrível das sereias — bem sabes
teus uivos não podem alcançar o bosque
onde a origem calmamente dorme —
como uma fonte emudecida.
Estás só, dentro do rio onde passa a língua,
tentando suspendê-la no pasto branco da infância —
tu, com a tábula vazia, tentando vislumbrar
o arco que o nome faz na palavra.
É nesse espaço onde vibra uma
imagem impossivelmente próxima,
como a curva que o vento faz em um sino
antes de tanger,
é nesse espaço, onde derradeiramente
vês escapar o fio de uma morada,
que tu depões o teu ofício, e, com as mãos
pensas e vazias,
retornas —
INDIVÍDUO N. 3 (OU A FESTA DO VAZIO)
então retornas ao mesmo tema
que faz um homem entre demasiados homens,
existência entre existências refluindo sobre si
um homem, aberto ao tédio e aos desertos,
cujo ser, de tanto contemplar,
não imolou a própria vertigem
até o som da lira ou do asco crepitar
e a sua existência —
este incêndio da face destituída ao espelho,
tão breve como a pulsão da aurora
ao encontro da noite fria
as tardes não te darão nada, meu filho,
a não ser a hora demasiado tardia de caminhos esgotados
ou o fundo vazio de estações indivisas
que te convidam a morrer no azul
é inútil assim ir como permanecer
exaurido no homem antes de ti
mas, se vais, escolhe o longo caminho
fora dos portos conhecidos,
propícios aos naufrágios dentro de si
no limiar da noite esquiva, entre esquinas mal iluminadas de astros,
a chama ausente do satélite inundará o teu ser
com um chamado lúbrico para o abandono
na vasta planície onde cantam as sereias do nada
mas não te afogues em aporias
deixa que o sopro do absoluto —
isto que ainda tens de uma infância —
dê-te o fôlego, mas não a chave inútil
não há portas
todas as construções ruíram
mas sob a tua soleira — a do teu ser —
o vento continua a rugir
o vento — ou as vozes que conjuras
na festa do vazio
AS MEMÓRIAS INVISÍVEIS
caminhas pelas estradas polvorentas da tua memória
recebes o vento pelas costas
algum sopro veio do mediterrâneo e tem a secura do deserto
pessoas cruzam e desaparecem para nunca mais
estás sob o sol asfixiante de junho à esquina da Calle Evangelista
ou passeias no Luxemburgo sob um guarda-chuva chinês
foi este ano ou o passado ou uma década atrás
(agora já contas as décadas)
mas os nomes traem as coisas
falta-lhes o excesso a mancha a impureza
os nomes têm a textura derruída da ausência
e a sua lâmina, uma ponta cega encardida pelo tempo
a Rua da Aurora no começo de uma tarde em agosto
não é a Rua da Aurora no começo de uma tarde em agosto
é também o teu ser precário sobre o Capiberibe veloz
e os quadros e arcos das pontes na extensão do azul
sem os nomes as coisas dormem no lago universal
do esquecimento e misturando-se às águas e às algas
destituem-se pouco a pouco como as margens de um rio
tragadas pela correnteza
chamá-las porém não lhes devolveria a face
(vulto que se perdeu ao virar a esquina)
cada coisa porém guarda o seu secreto nome
sob a arquitetura inviolável de um momento extinto
a poesia é — talvez — a tentativa de construir
para esse nome — uma esfinge à luz do dia
NOTURNO N. 3
as nuvens estão baixas e cinzentas
como carvão queimado
a lua —
um pingente barato
ou, talvez, a coisa em si, satélite
não apareceu no firmamento
o céu está despovoado —
há no vento um presságio insignificante
quiçá, um barulho nos cômodos do apartamento
mas certamente não um chamado ou um embuste
tudo é excessivo para aquele que busca
colmatar as lacunas —
meu corpo está aberto como uma vala seca de rio,
exposta e indefesa aos vazios que a noite carrega
na transparência opaca das coisas
não chegaremos muito longe
todos os espelhos foram quebrados
desde o expurgo do último metafísico
nossos olhos piscam, confinados em arquiteturas
não virá a nave com que atravessaríamos
as veias escondidas deste breu
mas nunca se sabe a cadência dos meteoros
que podem riscar o céu
não esperes o fulgor de uma eternidade
de que não saberias o uso
a noite é este brilho interrompido —
para nós, que esperávamos a razão total
sob a glacialidade de uma estrela
mas é nesta noite — e não em outra maior
que nos cabe perceber a sua chama pura e inútil,
o seu afago tão largo como o vento,
ó morada transitória do sentido,
onde, por um momento apenas, nossos corações se acalentam
e depois se extraviam
ENSAIO SOBRE O QUE RESTA
Freud diz que a humanidade sofreu três feridas narcísicas
com Copérnico, a Terra, nossa casa, deixou o centro do universo
com Darwin, a evolução substituiu a descendência divina
e, de volta a Freud, o inconsciente foi o bárbaro da razão
O homem perdeu a imagem arquetípica do homem no mundo
o céu estrelado, que constituía uma morada
ou uma lei, se abriu para a contingência fatual dos astros
a semelhança do filho à imagem do Pai
resultou apenas escritura e esta, um dos léxicos da História
O céu não configura mais um teto
a gênese, não mais uma raiz
e o caminho destituiu a razão
No centro de lugar nenhum, ganhou o homem
a liberdade de ir ou estar à sorte do nada
e de ver no espaço — o vazio
os puros horizontes de cor de Rothko
a ruptura da forma para além da abstração
E a ideia da pura página,
liberta para sempre do signo, desprende-se
da iminência do lírio, da bruma ou da neve
Sem invólucros, meu filho, inspira —
profundo é o ar e a experiência
incomunicável
Inspira profundamente a liberdade do que nos resta —
a plenitude do vazio
MINHA JUVENTUDE
rezem por mim
vou desligar
Cela diz quando embarca
aos catorze, quinze, a dúvida não era tão cruel
aos vinte já tinha visto os filmes de Bergman
e conseguia ler Beckett sem vacilar
desejava ir até o fim
que estava senão em algum livro de Dostoiévski
ou numa antologia de contos russos que comprara
mas descobri que todos somos homens
e esfacelamos em pleno ar
aos vinte e oito não tenho estômago para Haneke
sei que não surgem respostas dos poemas
um consolo talvez e o espanto — sempre
aos cinquenta, sessenta renovo as perguntas
e as esperanças
pena que Ruy não tenha chegado lá
concentro-me muito tempo nos caminhos de insetos
e em desfazer colônias intermináveis de formigas
mas tenho muita pena — de tudo
no Recife ainda quando chove faz sol
tanto mais cáustico quando é sábado
por isso me mando para a fazenda
meus amigos não sabem mas o vazio existe
rezem por mim
antes de dormir
TEIA
não há seguro contra o estar no mundo
nem tua casa te previne contra o assalto da existência
as janelas não impedem o vento e o cortejo de passos
de te trazerem signos do nada
o silêncio acusa que estás no centro de coisas
que não oferecem consolo porque apenas remetem a teu exílio
o expediente de levantar da poltrona e abrir a porta
da geladeira mede o intervalo de tempo gasto
e não sabes de que te serviria mais
teu olhar interroga paredes e detém-se numa lamparina
em vão um inseto debate-se contra o vidro
não há senão esta só e única realidade
à beira do Capiberibe ou do Nevá
MEU OFÍCIO
às cinco da tarde um som de apito no ar
anunciou à rua o vendedor de doce japonês
um outro — que inusitado — cruzou comigo
meia hora mais tarde no fim do passeio
em condições ordinárias não se cruza duas vezes
com vendedores de doce japonês
hoje é um dia ordinário cortado pelo maravilhamento
como todos os dias do ano
pela manhã quando atravessava para o cais no Bairro do Recife
as águas e os céus se dividiram em duas metades
de esplêndido azul
e meu coração fundeou à toa
junto aos barquinhos do Capiberibe
no fim da tarde eu vestia minha camisa branca
bastante usada e rasgada e gostava de que pensassem
em mim alheia às coisas materiais deste mundo
não importa mas o homem é um ser
de grandes questionamentos — inclusive dos menores
meu trabalho consiste em redigir petições
como todos os demais
entanto meu ofício é deixar o coração aberto
permanentemente
o espanto não escolhe a hora de entrar
VIDA DE CAMPO
quando chega ao campo, minha vó logo
se deixa ficar ao terraço, à cadeira de balanço,
os pensamentos para cá e para lá
como a gente descansa nessa paragem do tempo
verde, quando faz chuva, nos meses de junho a agosto
nos demais meses o mato fica seco
a gente descansa nessa paragem do tempo
e eu lhe digo que do pouco que faço
também descanso
um dia me deixarei ficar toda a semana
morarei aqui
com meus cachorros, o rumorejo das árvores
ao vento e toda a saparia
minha vó ri e diz é tão bom
nem precisa de gente
eu rio e repito nem precisa
de gente
ao longe, em uma estrada que meu olhar alcança,
um ruído de motor de carro
minha vó fala sobre o silêncio
e sua voz e o silêncio se confundem
no campo, o vento é o maestro de todas as coisas
de tudo que rege,
o ar, o balanço das palmeiras, o voo
dos pássaros e sua fala de canto,
de tudo isto, sobe o silêncio
e no corpo adentra — imenso
|