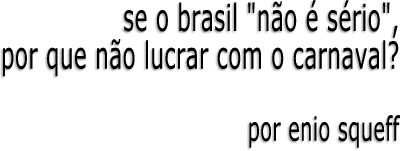As definições do Brasil como o "País do Futebol" ou "do Carnaval" não são idéias que se excluem. Ainda que o esporte exija a disciplina física, e que o carnaval não dispense uma certa organização, ambos supõem o lúdico como princípio e fim. Não parece um despropósito que os argentinos, os europeus e outros nos tenham como um país pouco "sério", conceito a que todos nos acostumamos. E como a nos justificar em nossas crises, inclusive políticas, já que em nosso repertório de auto-ajuda recorrente, ele aparece sempre à margem dos nossos exames de consciência coletivos. De fato, já ninguém dá muita bola ao discurso do empresário sisudo a reclamar do excesso de feriados nos quais o futebol e o carnaval seriam sempre o pano de fundo. Karl Marx dizia que o capitalismo tinha o dom de criar necessidades para vender o que fosse. Nas marchinhas de carnaval em que se cantam a cachaça, o chope e "a turma do funil" há a certeza de que as riquezas giram também por causa da cachaça, do chope; e da indústria metalúrgica de onde saem os funis.
Fica, portanto, o pressuposto de que o empresário que reclama do excesso de feriados — ou do carnaval ou do futebol — deveria levar em conta essas categorias do lazer, ou do lúdico — e que, afinal, o chamado "terceiro setor", o tal "setor terciário" dos economistas — também existe. E a gente gosta. E não por ser só de agora ou apenas do Brasil. Entre os romanos antigos, os escravos que produziam o supérfluo, não raro garantiam uma sobrevivência mais digna dos que os que se esfalfavam na lavoura; ou que mourejavam na fabricação das necessárias botas para os legionários; ou dos também fundamentais navios para a marinha mercante do Império. O escritor romano Petrônio em seu "Satírcon" — um romance surpreendente escrito cem anos depois de Cristo — conta de um rico romano que tinha um cozinheiro inventivo. Vai daí que ele não fazia melhores iguarias que seus iguais, mas enfeitava de tal modo certos assados, que a seus banquetes acorriam também curiosos. Todos queriam ver as surpresas de pombos vivos a saírem do ventre de um leitão cozido. Trata-se, ao que parece, de uma regra quase universal. O legendário cacique Aritana — do Alto Xingu — numa entrevista que deu há anos a um jornalista algo embasbacado, revelou que os colares fabricados por seu pai, eram muito mais valiosos para as tribos da região, do que quaisquer panelas ou mesmo flechas que evidentemente tinham muito mais serventia do que a aparente inutilidade de um adereço.
Em relação ao nosso carnaval, quase todos sabemos o quanto vale a festa. O diretor italiano Franco Zeffirelli, autor de filmes adulçorados como "Romeu e Julieta", depois de assistir a um desfile na Marques de Sapucaí, alardeou para meio mundo (ou para quem lhe desse ouvidos), que o Brasil sabia inventar a alegria. Foi naturalmente criticado, principalmente pela esquerda brasileira: com o que, a pobreza era capaz de inventar uma alegria inadivinhada, ao contrário do que vaticinava Vinícius de Moraes — "Tristeza não tem fim, felicidade sim?" Era isso mesmo. Mas e os negócios?
Mozart na sua ópera "Don Giovanni" põe um séquito de vingadores a perseguir o vilão do título numa típica "mascarada" de Veneza (que era como se conheciam os carnavais da cidade lacustre) e todos rigorosamente vestidos com as máscaras hoje conhecidas e até cobiçadas. Só com fantasias — ou as tais máscaras — os comerciantes venezianos deveriam lucrar muitíssimo, como, aliás, acontece ainda na atualidade.
A questão, porém, é justamente o sonho do carnaval, as máscaras, ou melhor, as fantasias não apenas materiais. Ou, mais que tudo, as formas que os sonhos assumem enquanto carnaval. O compositor alemão Robert Schumann (1810-1856) escreveu uma obra para piano intitulada "Carnaval" (linda, para dizer pouco), em que sobressai uma peça, "Chiarina" (Clarinha), que certamente apaixonou ainda mais sua futura esposa, Clara, sem deixar de nos arrebatar ainda hoje.
Sonhos, venda de sonhos?
Certamente, e nessa história, à parte Braguinha, Herivelto Martins, Heitor dos Prazeres e outros, todos autores das marchinhas de outros carnavais, não poderia faltar Villa-Lobos. Ele compôs uma obra chamada "Carnaval das Crianças Brasileiras" — sobre a qual são dispensáveis todos os elogios — mas que faz qualquer um sonhar mesmo os que não gostam de carnaval. E sonhar não com prensas de linha de montagem, ou com computadores que projetam modelos de avião — por mais que muitos brasileiros sonhem hoje com carteiras de trabalho devidamente assinadas. O que se quer dizer é que o sonho do carnaval, do futebol ou mesmo do Brasil, se não relega o lúdico também não dispensa o trabalho, e justamente com o lúdico: vender sonhos que só a nossa suposta falta de seriedade consegue inventar, pode ser o lucro paradoxal com os que nos vêem como o oposto da sisudez do mundo.
Na antiga Alemanha Oriental, durante o Carnaval, era o que normalmente se dava: eles fingiam o que somos, ou o que se pensa que somos. Por lá, à época, a grande fantasia que os animava era fazer as coisas de tal maneira que, pelo menos durante os quatro dias, elas pareciam ser tão pouco sérias quanto se imagina serem os brasileiros. Para tanto, em algumas cidades alemãs, com o envolvimento de não pouco dinheiro, imitava-se de forma escancarada o carnaval do Brasil, inclusive (como se dizia a título de propaganda), "com mulata e tudo".
Resta
saber se o país "pouco sério" — "do
Carnaval" e "do Futebol " — não tem como
não lucrar com essa fama de ser — ou de fingir ser —
o inventor da alegria como queria Franco Zeffirelli. E se essa condição,
como vaticinava Karl Marx, afinal, não é uma forma de
auferir bons dividendos também espirituais — se é
que isso seja possível.
março,
2007