o labirinto
é aqui
o provisório abismo
este rosário de calêndulas?
pálido pêndulo de asas
horizonte de estrelas donzelas
: calendários
é aqui
o solitário pórfiro
este imaginário de istmos?
dilúvio desvio de lírios
rios de urânios píncaros
: imagismos
é aqui
o purgatório cósmico
este estrelário de brilhos?
luxúria lunária de chumbo
solventre de escamas agônicas
: estribrilhos
olhar de guernica
possuo olhar de guernica:
olhos vermelhos, tentáculos de alumínio,
belos e cruéis.
sou um lince nos confins do mundo.
a alma solitária amadurece como amora.
desapareço nas poças brancas do silêncio,
no crepúsculo barroco,
no vale dourado do sol surreal,
no corpo-tremor, na língua-leveza,
em troncos elásticos, em átomos-uivos,
em ogivas-trovões, em cogumelos-metástases,
em cadáveres-resíduos, deuses-demônios-ácidos.
cabaret voltaire: cerveja, jazz, cigarro, arte, filosofia, humor e sexo.
estes versos são árvores velhas.
a terra carbonizada entra em colapso.
árvores em chamas atravessam o passado.
é o que ocorre com aqueles que se aprofundam.
cérebros-nozes: a esfera azul não é plana, imbecis!
sombras do futuro: cérebros-nozes não brilham!
imbecis: mergulhem em uma névoa bêbada!
névoa bêbada: malabaristas se masturbam!
amadeus mozart brilha como brilha o orvalho.
axilas fedem a "titan arum" — flor-cadáver.
a terra gira como um guarda-chuva gira.
tanques-convulsivos são estridentes.
as moscas herdam os seus heróis.
sun tzu é um tabuleiro de xadrez.
homens são granizos e mísseis.
sem-tetos exibem suas bocas,
sem sorrisos e sem dentes.
há dias — como hoje — que vozes secretas tocam telhados de ardósia.
— este poema é a minha lápide.
teatro de guerra
teatro de guerra — excêntrico!
névoa inaudível,
cercas de arames farpados
em cada um de nós, — miseráveis!
tanques blindados, bolas de fogo, ruínas,
sapatos de bebês, ferraduras,
gel para queimaduras,
clavilhas, clavas ao sol,
clavículas ao sol,
clave de sol.
corpos costurados à sombra oblíqua,
em terras de neblinas sedentárias — cemitérios.
fuligem de arma química,
flor em copo d'água,
flor desbotada,
— esquizofrenia!
homens ocos,
cavam em si mesmos
o mapa do mundo oculto,
explodem sem cerimônia, sem pudor.
as noites se dividem entre fósforo e obscuro.
madeira morta
em silêncio,
o inverno descansa.
PALAVRARMA

azul topázio
I. azul topázio : têmporas de algodão
amplo abismo parietal : labirinto
fúlgido de opala no fausto
admirável do ocaso
II. o azul — agora — lápis-lazúli
liquefaz-se em pálpebras
reluzentes
: oblíquos cones aquosos
desnuda aprecia (n)as
galáxias ver
te (br)
ais
III. nacos [o céu cor de chumbo
sobre minhas memórias ] de nuvens
encobrem [ângulos de cotovelos tateiam
um centauro inquieto ] revérberos de estrelas
cidade exílio
cidade carrasca: de nódulos, vácuo e vento,
entre colunas de envelhe cimento.
mapas de carne exposta, dunas
de nuvens sobrevoando
têmporas.
gritos no mergulho da estrela cadente sem vestígio de paisagem e luz.
o que existe é a geometria aguda da cidade, agulhas circulando
dentro do olhar, nódoas, cárceres e cartões-postais.
o lince desprezando o salto entre cabelos de aço
de um corcunda de mandíbula oclusa
e esfomeado, onde lâminas de dor
recortam a brancura do seu corpo.
entre árvores sagradas, entre argonautas em viagem — sem retorno —,
erguendo-se à luz guardada dos céus, sussurros a meia voz:
— como remover essa sujeira através do espelho?
porque ninguém vê o seu universo,
porque ninguém vê o céu,
porque ninguém vê,
porque ninguém,
por quê?
porque é inútil fechar os olhos aos espelhos, ver têmporas forjadas
em sombras da cidade, negar a escuridão da pátria suplicante,
estuprada em miséria abismal, entre a própria ausência
de uma voz espessa.
sonhar suavemente as primaveras em fluxos de sentidos,
armadilhas e raiva, e — à véspera do futuro — dormir
as pálpebras em fugas diárias, observar
o pôr do sol — dia âmbar — onde
a vo[ra]z cidade — ave de rapina —
não diz nada.
absorver a cidade úmida: torres-agulhas, castelos-colmeias, quebra-cabeças.
tecer deste linho as flores-funerais, utensílios domésticos, raios de sol, voos
em pêndulos, vozes excitadas em maxilares de antigas esfinges, estilhaços-cicatrizes, sabores rubros, licor de cereja, célula-carvão, fósforo silencioso.
texturas
tudo está lá:
mar e poeira, sol
e sal, ruínas de mármore,
árvores ardendo no vazio impassível.
— esse tempo está oculto em suas texturas.
ouça: um e outro estão em silêncio.
hálitos de raiva, brancos sólidos,
empilhados em potes de vidro,
como lâmpadas acesas,
estão lá, em paz:
cabeças em frente à televisão
ouvem black sabbath
na escuridão:
"ao olhar através da janela, no profundo das sombras,
elas têm suas mentes controladas".
eis o renascer emoldurando a paisagem:
meus mortos descerão de seus esconderijos.
não consigo devorar meus ossos novos.
meu corpo não é uma flor mineral.
flamingos com os pés tenros,
entre juncos e salgueiros,
em sua própria luz,
são tão leves, quase não estão no lugar.
seppuku — o último alvorecer
não conheço outras línguas,
a não ser a minha
e a tua.
como o punhal longo e afiado
cortando o ar costurado
do céu em moldura.
lâmina magnífica, brilhante e esbelta,
lambendo-me as entranhas.
em silêncio — sangue solferino —,
seguro o ventre,
embalo-me na névoa, tripas expostas
a todos vocês.
compreenda-se isto como a minha voz
asfixiando-se na última decapitação
das cerejeiras.
silêncio é cortar gargantas
silêncio é cortar gargantas,
invadir o deserto dos cactos,
escavar a carne do poema.
e vão-se sangrando cadafalsos de mármore,
do rossio — vísceras e crânios —
em rótulas.
silêncio é lamber lagartixas,
despedaçar pétalas plásticas,
transcender o ópio do poema.
e vão-se despertando falsos buquês de vinhos,
do átrio — nenúfares secos camurça crua —
em agonia
silêncio é maquiar a face,
dar a outra face à estátua,
escorrer as lágrimas do poema.
e vão-se arquejando corpos adúlteros encharcados
de lírios — lascas de carne unhas-cirúrgicas —
em luxúria.
silêncio é rever o riso carnívoro
entre espectros espelhos esculpir
a alegoria escapular vazante do poema.
e vão-se destilando semi-luas em elmos de aço,
em cavidades de alvéolos — alfazema que se comparte —,
em calendários.
gaiVOOta
sussurros de uma gaivota exausta
transbordando entre
céu e mar
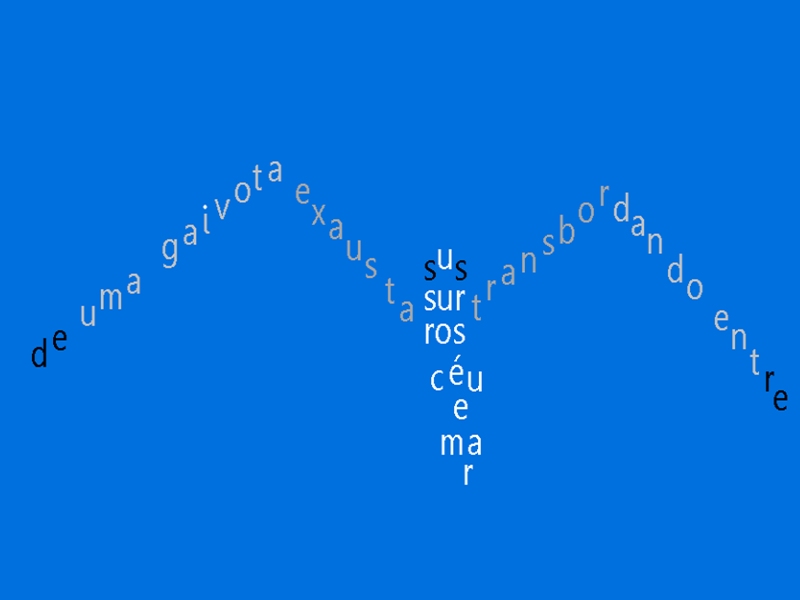
aurora insurgente
moldar o céu em vapor
contra o rastejar da serpente,
onde meninos impelem pandorgas aos céus.
couro de cobra-alvéolos em convulsão-laivos-
espasmos de cornucópias opacas-eflúvios de almíscar
em dobras de cambraia-miragens de mísseis-o despojar
dos rebocos das aldeias-o rubro das cruzes em tornozelos de seda.
abater a cólera que surge das colinas do norte,
em manhãs abissais tecidas de figos secos.
designar o véu
e cobrir o rosto de estanho
ocultado pelos ciprestes de alambres tardios.
— vibrar com o incenso nas pupilas dos dias —
aurora insurgente, peregrina, obstinada rosa de jericó:
perfume intacto — à sombra da esfinge —
desnudando o deserto de lúcifer.
— flor da ressurreição!
água salobra
há algo a aprender com a água salobra, com o lodo do seu fundo
habitando tudo. como o sol da tarde espessando um corpo,
corvos cingindo suas noites. como o inchaço dos mamilos
excitados através de um olhar extinto, em instantes
de absorção, no plural monótono das multidões.
há algo nessa noite — de visão turva — onde sou visto, distante por fora, brilhante
por dentro, com a voz, em ritmo agudo – na vastidão
tão leve e cinza das aparências —.
estas são as noites em que me movo com cautela
para não atingir os fantasmas dos espelhos,
onde a vida é o eco — gota a gota —
de uma vertedura através
dos subterrâneos.
há um tempo de floração para cada estrela que [re] colhemos,
onde abrem-se veredas, um repouso preso aos juncos escuros.
onde sabemos estas águas pelo enrugamento de nossas peles.
as unhas cravando-se no lodo sob a casca das manhãs,
absorvendo dos abismos o brilho dos nenúfares,
a névoa entre as omoplatas do hóspede calmo,
desnudo por predadores de algas vermelhas,
cingindo o corvo, sugando-lhe a água
salobra através dos espelhos brancos.
sabemos do tear retorcido — cicatrizes várias —
dessa água ácida da espessura da floresta,
do teor tecido de uma aranha ardente
em tardes [em]a[r]ranhadas; das asas
abertas de cigarras estridentes
esta é a hora. é a hora da luz crescer entre os nervos vertebrais,
entre o ar se movendo no torso lilás da libélula,
às poças escuras e perversas.
esta é a hora das luzes tremeluzentes das estrelas,
suportarem a ruptura impenetrável da névoa,
das abreviaturas das palavras,
e o que vive distante:
"sombras sobre a água salobra".
o discurso do ouriço
um tambor
corta os pulsos do tédio e se contamina.
luz de um farol distante ou apenas um espelho onde
e
s
c
o
r
r
e
a solitude?
o que contemplo agora — além de nós —, sem asas sem nada,
é o murmurar pelas fímbrias de um desvalido ouriço.
sou um arcanjo — olhos-amêndoas — refugiado em mim, excesso de pureza.
raspo os supercílios, retiro da íris o olhar (o)fendido.
fornicadores ranzinzas de oferendas plásticas — não sejam ingênuos!
há uma catarse em cartaz: acrisolar através da cólera.
há lobos-cordeiros suscitando todos os medos,
veias invadindo carnes de pescoços hiantes,
o flagelo imenso de vampiros sobre o asfalto.
por que incitar a língua oblíqua a ser perversa,
ela, que se estende em território turvo
sem tanger esse domínio de pedra?
aqui, a solidão do mármore atravessa a lodosa paisagem.
não se resigna ao céu denso atônito, onde tudo
se encerra em lábios anoréxicos de anfíbio.
sem deixar vestígios de meus ossos, imóveis de alumínio,
sou um cão — réptil e faminto — estelante em funeral sidéreo.
um tambor
corta os pulsos do tédio e se contamina.
heliPÓptero
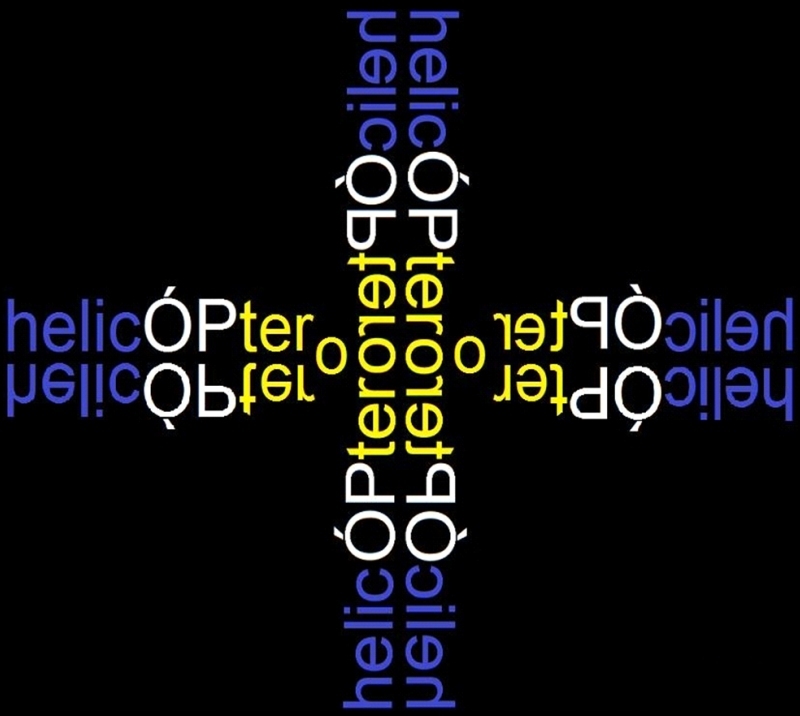
[imagens ©poemas visuais de ziul serip] |

