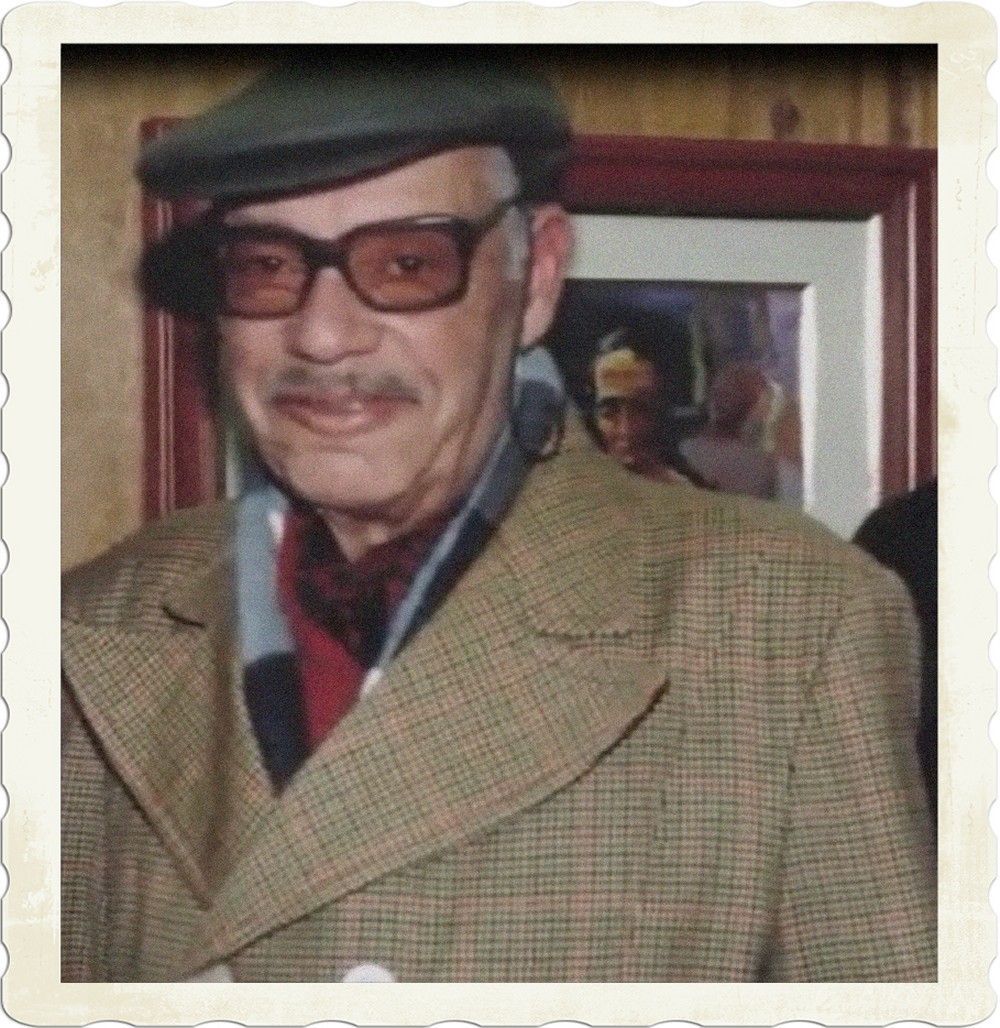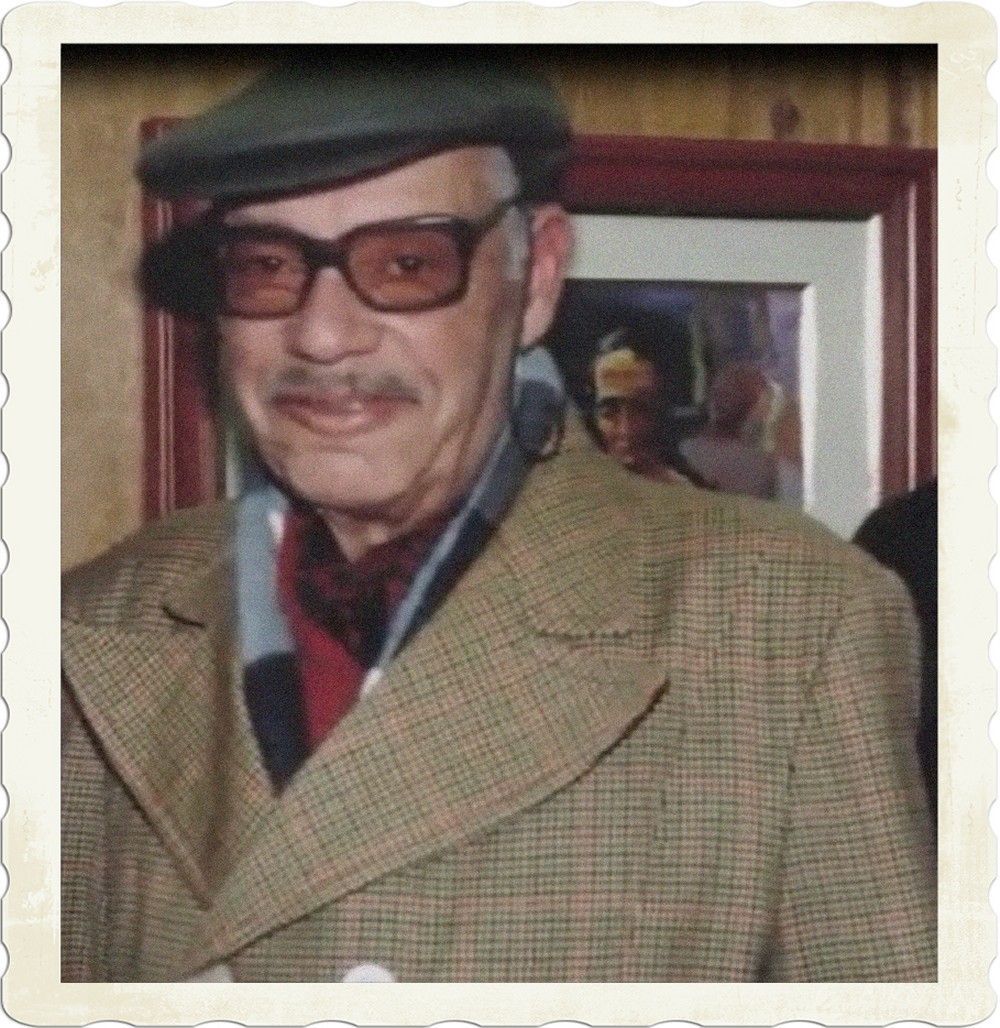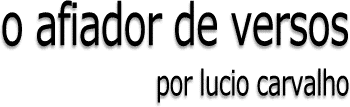Quem, entre qualquer pessoa, poderia atestar sobre os passantes na rua: ali vai um tabelião, um pouco atrás um sapateiro? Um professor, o mais de trás? Aquele outro talvez seja... Quem sabe? Um poeta?
Não sei. Provavelmente ninguém. Para mim ao menos são indistinguíveis. Não sei avaliar (talvez nunca saiba) por que modos ou características precisas, se é que deveriam portá-las ou exibi-las ostensivamente, se poderia diferenciar os criadores de versos dos demais seres humanos. Por isso, poetas e não poetas têm a mesma cara na rua. Pela fisionomia não se pode saber com que termos e palavras a pessoa pensa a si e ao mundo. Talvez pelo brilho nos olhos, mas há quem se aproxime o bastante? Cada vez menos. Que dúvida! Poetas e não poetas caminham como os demais caminham. Frequentam lugares, entram e saem através das portas assim como todos os demais seres viventes. Aqueles que imaginam antever uma espécie qualquer de aura provavelmente enganaram-se de referência: estas são para os santos e anjos. De efetivamente seu, poetas mal têm os versos.
No fim da minha infância, num momento impreciso da vida, conheci um poeta no seu próprio território e talvez até um pouco mais que isso, na sua intimidade, mesmo que de modo indireto. Eu subia, muitas vezes atravessando o vento gelado do inverno, um perau, quase um penhasco mesmo, para chegar lá em seu topo, na rua Líbio Vinhas, em Bagé, a uma casa situada num recôncavo da rua postado de frente ao poente. Um ambiente quente e acolhedor onde morava um amigo muito especial naqueles dias e sua família; entre eles, o tal poeta.
De nome eu já o conhecia, mas muito pouco de vista. Com a família, havia residido muitos anos fora, em Santa Maria e outros lugares e voltavam agora, depois da sua aposentadoria, para Bagé, interior do Rio Grande Sul, fronteira com o Uruguai. Logo eu saberia reconhecê-lo nas ruas, mas, apenas porque já o havia visto na própria casa, eu sabia então de quem se tratava. Definitivamente não caminhava como um poeta porque isso não existe. Fazia-o do seu próprio jeito, o olhar mais para baixo que para cima, por uma cidade que conhecia desde a geografia mais óbvia até a mais imperceptível, a que se desenha no modo de ser de sua gente, seu jeito de ser e de falar e, talvez, até mesmo do jeito de andar: humilde em muitos, altivo em uns poucos — às vezes mais do que o cabível e necessário.
O calor de sua casa tanto provinha dos afazeres ininterruptos de sua esposa Dona Vitória e de sua boa conversa, da amizade dos filhos do "homem" quanto de um detalhe muito especial que eu percebia incomum, porque as casas que eu frequentava, a minha própria, tinha espaço para os livros, mas nada perto do que havia naquelas prateleiras. A casa do pai do meu amigo era tomada por livros. Os livros eram, em sua maioria, de seu pai e muitos, os mais antigos, de seu avô, o também escritor Pedro Wayne, autor de Xarqueada e Lagoa da Música. Pronto, agora não posso mais falar da pessoa sem dar seu nome. O pai do meu amigo, o poeta Ernesto Wayne, eu atesto que era mesmo um poeta de ofício. E digo não porque o tenha reconhecido ao caminhar na rua, mas por vê-lo trabalhando. E não pouco.
Durante os anos que convivi com sua família (não foram muitos, mas intensos), jamais deixei de reparar na dedicação de Ernesto Wayne para com a palavra. Mesmo assim, ouvi de sua voz algumas palavras (eu não diria lições) de bom professor de literatura que ele era. Algumas até de um incipiente incentivo, porque algumas poucas vezes me atrevi a lhe mostrar alguns versos. Não me foi condescendente. Mandou-me ao trabalho, mas de uma forma agradável: através dos livros. Mais tarde, a vida, como ela costuma fazer, levou-me para longe daquele endereço, mas não da amizade e das boas lembranças com este meu amigo e de sua família, ao fim todos carinhosos amigos.
Ourives da palavra, artífice da métrica precisa dos sonetos, não é por isso, entretanto, que sempre me admiro da poesia de Ernesto Wayne. Tanto em Ossos do Vento quanto em Extrato de Conta, o que é notável nele é o seu domínio do ritmo. Mesmo que por muitas vezes a escolha de uma palavra obedeça a uma necessidade formal, o Ernesto Wayne de que me lembro jamais deixou de submetê-la ao ritmo interno, de solfejador disciplinado que ele sempre foi.
Ernesto Wayne viveu a literatura de sua época e isso desde a fundação do grupo de Bagé — formado pelos artistas plásticos Glênio Bianchetti e Glauco Rodrigues e pelo também poeta Jaci Maraschin — até o fim de seus dias, ao que me consta. Sei que muitas pessoas e críticos gostam de classificar geograficamente os escritores. Segundo essa ordenação, o sujeito pode ser tanto um autor universal, nacional, regional ou local. Na minha memória, o seu Ernesto (desculpem, mas sempre o chamei assim) está junto com os livros dos poetas que me mostrou e através dos quais travei contato pela primeira vez, protegido do inverno bageense e do açoitador vento minuano, com os versos de Ezra Pound, Fernando Pessoa, T. S. Eliot, Drummond, Quintana, Neruda, Bandeira, Vinicius e mais uma lista interminável. Pouco me importa se ele seja melhor conhecido aqui ou ali, porque é ao lado desses nomes que para mim estará sempre o desse afiador de versos.
Abaixo, transcrevo do seu Extrato de Conta o poema que o intitula.
Extrato de Conta
Meu corpo coração tem
Com duas pontes, ramal
Que desvia e passa além
Do estreito e triste canal
Que entupir meu peito vem
De pesares em geral.
Minha alma tem também
Coração, mas esse tal
Vai mal, mal bate, meu bem!
Garranchos do meu final
No eletrocardiograma
Da alma que vai muito mal.
Tão mal que a Velha Dama
A mim, deficiente da alma,
Quer levar, porém reclama
Que relate, antes, com calma
O que fiz de anjo ou de cobra:
— De bem pouco levo a palma,
Pago o que a vida me cobra,
Quitada a dívida, a conta,
Somo e reparto o que sobra.
Obra que não está pronta,
Um que outro amigo disperso
E bens de nenhuma monta.
Do azul licor do universo
Que doido sorvi outrora
Resta um pouco em cada verso.
Do que fui, que fica agora?
— Um resquício, ralo caldo.
Pago juros de mora,
De saudade tenho um saldo,
Mocidade na memória,
Recordação de respaldo:
A minha mulher Vitória,
As minhas sete crianças,
Minha existência ilusória.
Raspo em banco de lembranças
A minha conta-corrente:
Descontadas as cobranças
Disponíveis ao cliente
Rasos créditos escassos
Com que velho me sustente.
Descaminhos de meus passos,
Meus depósitos de ventos,
Meus grosseiros erros crassos.
A dor de tantos momentos
Não sei onde começou,
Termina nestes lamentos.
E do que fui, do que sou
Não me sobrou uma estética,
Luta sim, talvez sobrou.
Mais um certo senso de ética
Por sobre o viver diário
Numa visão meio cética.
Contas perdi do rosário,
As que restam arroladas
Vão aqui neste sumário,
Sem ordem, desarrumadas,
Em anos de desenganos,
A seguir discriminadas:
Me ficam perdas e danos;
Dos raros ganhos nem rasto,
Se dissiparam insanos
Na alma não tenho pro gasto.
maio, 2017
Lucio Carvalho (Bagé/RS, 1971). Autor de A aposta (Ed. Movimento), Inclusão em pauta (Ed. do Autor) e do blogue Em meia palavra. Tem atuado como editor e articulista em revistas culturais, portais, agências de notícias e veículos de imprensa. Escreve ficção, poesia e crítica literária.
Mais Lucio Carvalho na Germina
> Poesia
> Na Berlinda [conto]